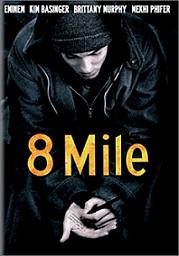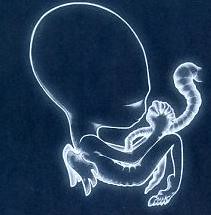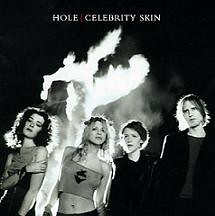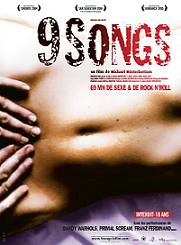quarta-feira, agosto 31, 2005
HAPPY BLOGDAY!
THE EMINEM SHOW
Muitas vezes - demasiadas, até -, quando músicos apostam em experiências enquanto actores, os resultados deixam a desejar e não são mais do que tentativas embaraçosas de prolongar o seu carisma num território que não se revela o seu.
Nos últimos anos, figuras da pop como Whitney Houston, Britney Spears, Mariah Carey ou Madonna, entre outras, tentaram a sua sorte na sétima arte, mas nenhuma foi especialmente convincente.
Em "8 Mile", de 2002, foi a vez do rapper Eminem complementar o seu percurso musical com um projecto no grande ecrã, mas ao contrário dos casos anteriores, apresentou não só um desempenho seguro mas também um filme acima da média.
Inspirada em certos elementos da vida do cantor - embora não se saiba exactamente até que ponto -, a película desenrola-se nos subúrbios de Detroit e oferece um interessante olhar sobre o desencanto de uma juventude sem perspectivas viáveis e com poucos modelos e referências, vivendo um quotidiano rotineiro e pouco estimulante.
Jimmy Smith Jr, mais conhecido como Rabbit, é um desses jovens, que para além de problemas familiares enfrenta outros dilemas como a precariedade do trabalho (é operário numa fábrica local) ou conflitos com gangs.
Uma das poucas coisas que o inspira e encoraja é a música, particularmente o hip-hop, linguagem que em tudo se relaciona com a tensão urbana com que contacta diariamente. Entre os seus objectivos, Rabbit persegue com mais obstinação o de se tornar num músico reconhecido e respeitado, e "8 Mile" foca as contrariedades com que terá que se debater ao lutar por essa ambição.
Mais um filme sobre um self-made man? Sim e não. Se, por um lado, "8 Mile" não se desvia muito de uma linha clássica tipicamente norte-americana sobre a ascensão - ou, pelo menos, um triunfo moderado - de um jovem envolto em situações hostis, também é verdade que esse percurso é apresentado de forma realista q.b., não se tornando num filme formatado e muito menos em mais uma moralista história edificante.
O mérito, para além de Eminem, que surpreende com uma interpretação credível e sentida, é sobretudo de Curtis Hanson, realizador desigual - aclamado por "L.A. Confidential" ou "Wonder Boys - Prodígios", contudo não tão recomendável em "Influência Fatal" ou "Rio Selvagem" -, mas que aqui se encontra inspirado e sabe que rumo dar ao filme.
O trabalho de realização de Hanson, discreto e astuto, consegue injectar uma considerável aura realista, retratando os espaços urbanos de forma suja e crua mas estranhamente envolvente.
Igualmente determinante para a notável definição de ambientes é a hipnótica fotografia de Rodrigo Prieto, sem dúvida uma das mais impressionantes do cinema de hoje cuja qualidade também pode ser atestada em obras como "A Última Hora", de Spike Lee, ou "Amor Cão" e "21 Gramas", de Alejandro Gonzalez Iñarritu.
"8 Mile" é uma película sóbria, que não tenta ser mais do que aquilo que é, preocupando-se em oferecer uma boa história bem contada.
Essa ambição moderada assenta-lhe bem, pois assim perdoam-se alguns elementos menos conseguidos, como o tratamento algo superficial das personagens secundárias (apesar de boas prestações de Kim Basinger, Brittany Murphy e da maioria do restante elenco) e a previsibilidade que o argumento não consegue evitar a espaços.
"8 Mile" não é um filme particularmente inovador, mas contém um protagonista com algum magnetismo e um curioso - e poucas vezes visto no cinema - olhar sobre a cultura hip-hop, propondo uma interessante perspectiva sobre o crescimento, a família, a violência, a amizade e a alvorada da idade adulta. Não é revolucionário, mas tem muito mais do que seria de esperar...
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
terça-feira, agosto 30, 2005
CORRE SHIRLEY CORRE!
Quando ouvi o primeiro single do novo álbum dos Garbage, "Bleed Like Me", temi o pior. Cançãozinha de fúria enlatada, com uma estrutura linear de verso-refrão-verso e incapaz de aproveitar a maleável voz de Shirley Manson, antecipava um disco desinspirado.
WORLD BLOGGERS, UNITE!
Amanhã é o dia do blog, um dia dedicado ao conhecimento de novos blogs, de outros países ou áreas de interesse. Nesse dia os bloggers recomendarão novos blogs aos seus visitantes.
segunda-feira, agosto 29, 2005
A SURPRESA NÃO MORA AQUI
O cinema norte-americano não tem conseguido apresentar, nos últimos anos, nada de muito interessante dentro do género do terror, limitando-se a produzir dispensáveis adaptações de filmes orientais ou a repetir fórmulas mais do que estafadas.
"A Chave" (The Skeleton Key), que combina elementos de terror, fantástico e thriller, é uma dessas propostas recentes que, embora até tenha um ponto de partida curioso, acaba por não convencer.
Caroline, uma jovem enfermeira do sul dos EUA, vai trabalhar para uma velha mansão nos arredores de Nova Orleães, ajudando uma idosa a cuidar do seu marido, que está praticamente imobilizado e sem muitas faculdades.
Contudo, aos poucos a protagonista apercebe-se que a casa esconde alguns mistérios e inicia uma série de investigações na tentativa e os resolver, deparando-se com revelações que envolvem ligações entre a mansão e o hoodoo (um ritual próximo do voodoo), e para encontrar mais respostas recorre a uma chave que abre quase todas as portas da sua residência temporária.
Apesar de ser mais um filme sobre mansões assombradas, "A Chave" possui a espaços uma intrigante vibração devido às atmosferas de traços southern gothic, que parecem sugerir que a película percorrerá territórios estimulantes e surpreendentes.
Contudo, isso não chega a acontecer, pois o filme limita-se a seguir uma previsível rotina e não proporciona muitos momentos capazes de tirar o fôlego ao espectador.
"A Chave" contém um bom elenco - com Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard ou John Hurt -, uma fotografia apropriada, um ritmo escorreito e um competente trabalho de realização.
No entanto, apesar desses bons condimentos, o filme não vai a lado nenhum, pois não possui um argumento especialmente cativante e chega a tornar-se ridículo nos momentos finais (com um twist que surpreende mas não pelos melhores motivos).
Ian Softley é um cineasta ecléctico - a sua filmografia inclui "Hackers", obra de culto com uma jovem Angelina Jolie; uma indistinta adaptação de "Wings of the Dove", de Henry James; ou "K-Pax", aposta na ficção científica - mas não muito criativo, e aqui oferece um filme que, mesmo não ofendendo ninguém, dificilmente se diferencia de tantos outros exemplos do género.
"A Chave" não chega a bater no fundo, mas é das obras mais insípidas de 2005, uma experiência cinematográfica formatada que facilmente se dilui da mente do espectador poucos minutos após o seu visionamento. Podia ser pior, é certo, mas alguém precisa de mais um filme descartável?
E O VEREDICTO É: 1,5/5 - DISPENSÁVEL
domingo, agosto 28, 2005
THE GOOD GIRL
Depois de uma estreia interessante com "Tidal" (1996) e da confirmação em "When the Pawn..." (1999), Fiona Apple está prestes a editar o seu terceiro álbum, "Extraordinary Machine", que deverá sair em Outubro. Infelizmente, quase esteve para não ser lançado, uma vez que a editora Sony achava que não tinha grande potencial no mercado, mas afinal parece que o disco vai mesmo chegar às lojas em breve.
Entretanto, as novas canções da cantora/ compositora já circulam pela net, como é o caso de "Parting Gift" (que não me entusiasmou muito) e "O' Sailor" (muito boa, merece algumas audições). Por aqui espera-se um bom disco, já que a Fiona ainda não desiludiu. Tirem as vossas próprias conclusões...
A LESTE DO PARAÍSO
A estreia de um novo filme de Michael Bay está longe de ser um acontecimento relevante, pelo menos para quem procura num filme mais do que uma série de sequências de acção repetitivas e exageradas, aliadas a personagens caricaturais e a uma básica construção da narrativa.
Por isso, “A Ilha” (The Island), o mais recente título do realizador norte-americano, não apresentava, à partida, muitos atributos que o distinguissem de obras anteriores, seguindo os moldes de um blockbuster pronto-a-servir.
De resto, o facto de ter sido mal recebido internacionalmente por grande parte do público (que sempre aderiu mais aos filmes de Bay do que a crítica) sugeria que a fórmula usada pelo realizador estava à beira do esgotamento e nem conseguia assegurar um entretenimento competente.
Mas, como por vezes a realidade é mais estranha do que a ficção, até uma película de Michael Bay pode revelar-se surpreendente e interessante, uma vez que “A Ilha”, não sendo um título especialmente inovador, consegue ser uma refrescante proposta de ficção científica, ainda que contaminada com consideráveis – e a espaços excessivas – doses de acção frenética.
Centrado numa sociedade futurista, o filme assenta em dois habitantes de um complexo que protege aqueles que resistiram a uma suposta contaminação que dizimou grande parte da humanidade.
Lincoln Six Echo e Jordan Two Delta, à semelhança dos seus companheiros, vivem um quotidiano rotineiro e pacato onde o único elemento encorajador é a hipótese de, um dia, conseguirem ganhar um sorteio que lhes permitirá viajar para a Ilha, um pequeno paraíso e o único local que escapou à devastadora contaminação.
Contudo, aos poucos, Lincoln começa a questionar os fundamentos e propósitos do sistema ultra-regulado e organizado que o acolhe, procurando respostas que o levam a descobrir que, afinal, a atmosfera aparentemente pacífica em que se insere é parte de um projecto sinistro e assustador.
Quando se apercebe que a convidativa Ilha é apenas um instrumento manipulação dos habitantes do complexo, Lincoln decide escapar, juntamente com Jordan, ao sistema que os enclausura, mas essa atitude torna-os em alvos abater e origina uma vertiginosa rede de perseguições e ataques.
Combinando múltiplas influências de obras de ficção científica – há paralelismos com “Matrix”, “1984”, “Equilibrium”, “A Praia”, “Relatório Minoritário” ou até “A Vila”, entre outras – “A Ilha” não é um filme revolucionário, mas é um blockbuster com mais ideias do que seria de esperar, sobretudo vindo de alguém que gerou películas tão inócuas como “Armaggedon” ou “Pearl Harbour”.
Os primeiros 30/45 minutos são especialmente atípicos quando comparados com as restantes obras de Bay, uma vez que não apresentam o habitual concentrado de pirotecnia mas antes uma promissora introdução a uma intrigante sociedade futurista. Envolventes, embora frios e estilizados, os ambientes oferecem alguns criativos prodígios visuais, recorrendo a um design sofisticado, e até há espaço para seguir o percurso de dois protagonistas interessantes.
É certo que, depois dessa fase, o filme se torna um pouco irregular, oferecendo as esperadas sequências de fugas, tiroteios e explosões que Bay filma de forma algo exibicionista e apressada, mas ainda assim o argumento é suficientemente sólido para que esses episódios mais esquemáticos sejam tolerados.
As interpretações de Ewan McGregor e Scarlett Johansson também contribuem para que “A Ilha” resulte, e mesmo que este não seja um tipo de projecto em que os actores apostem regularmente o balanço é bastante positivo, uma vez que a dupla ajuda a que o espectador se preocupe com o destino dos protagonistas (ainda que não sejam personagens particularmente complexas).
Aliando o entretenimento à exploração de temáticas científicas e éticas actuais, “A Ilha” é mais bem sucedido no primeiro aspecto do que no segundo, mas tem mais substrato do que a maior parte dos títulos género que têm surgido ultimamente, impondo-se como um recomendável filme de acção.
Para além se ser a melhor obra de Michael Bay (o que quer dizer muito pouco já que as restantes são dispensáveis, mas pelo menos esta não contém a vergonhosa manipulação emocional) é um dos mais estimulantes blockbusters do Verão de 2005. Sim, ninguém diria, mas finalmente Michael Bay fez um bom filme, por isso “A Ilha” merece ser visto sem preconceitos.
E O VEREDICTO É: 3,5/5 - BOM
sábado, agosto 27, 2005
OUTRO NÍVEL
Na passada quarta-feira, depois de já ter visto os Blind Zero, voltei às festas de Corroios para espreitar o concerto dos Da Weasel. Embora tenha começado com uma hora de atraso, valeu a pena, e a banda voltou a demonstrar que, apesar de uma discografia recomendável, o palco é o seu verdadeiro território.
O público aderiu em massa e o grupo esteve à altura do notório entusiasmo geral, especialmente PacMan, dinâmico q.b., e Virgul, responsável por alguns interlúdios portentosos. O alinhamento também foi coeso, alternando momentos fortes do álbum mais recente, o muito bem sucedido "Re-Definições", e canções emblemáticas de registos anteriores, como "Todagente", "Outro Nível", "Tás na Boa", "O Puro", "Dúia" ou "(No Princípio era) O Verbo" (a minha personal favorite da noite). Venham mais...
quinta-feira, agosto 25, 2005
SANGUE POR SANGUE
Com uma filmografia aclamada, onde constam títulos como "Rainha Margot" ou "Intimidade", Patrice Chéreau tem vindo a destacar-se, nas últimas décadas, como um cineasta capaz de proporcionar interessantes olhares sobre o âmago das relações humanas em películas de considerável carga dramática.
"O Seu Irmão" (Son Frère), de 2003, volta a atestar a sua perspicácia na abordagem de questões nucleares, oferecendo um olhar acerca da relação de dois irmãos que, após alguns anos de escassos contactos, voltam a reatar a sua relação devido a um súbito infortúnio.
Depois de lidar durante algum tempo com uma recém-descoberta doença sanguínea sem a revelar à sua família, Thomas decide divulgá-la ao seu irmão mais novo, Luc, com quem já só contactava esporadicamente. Orgulhoso e de temperamento difícil, Thomas torna-se cada vez mais impaciente e nervoso à medida que se apercebe que o seu estado dificilmente melhorará, e assim vai-se apoiando, cada vez mais, em Luc, reforçando uma ligação conturbada mas afinal essencial e determinante para ambos.
Se em "Quem Me Amar Irá de Comboio" Chéreau focava as dores do luto e em "Intimidade" as interligações entre o amor, o sexo e a solidão, em "O Seu Irmão" a acção centra-se no contacto com a doença e os seus efeitos, tanto a nível físico como emocional. No entanto, tal como nesses títulos, o cineasta baseia-se na ideia central e alarga-a, interligando-a com as contrariedades dos laços familiares, a complexidade das relações amorosas ou a ambiguidade sexual.
A realização de Chéreau gera apropriadas atmosferas lúgubres e clínicas, que aliadas a um ritmo pausado, a uma fotografia seca e uma banda-sonora discreta (a única canção presente é “Sleep”, de Marianne Faithfull) contribuem para que o filme contenha uma estranha aura doentia, muitas vezes difícil para o espectador mas bastante verosímil.
Contudo, mais do que a cinematografia, o grande trunfo do filme são mesmo as excelentes interpretações, sobretudo as dos dois protagonistas. Seria difícil escolher actores mais credíveis do que Bruno Todeschini – que, no papel de Thomas, irradia uma convincente revolta e fricção emocional devido ao seu estado de saúde – e Eric - Caravaca – que, encarnando Luc, emana uma calma, altruísmo e ponderação contrastantes com a recorrente tensão do irmão.
A forma como Chéreau retrata a interdependência das duas personagens é notável e comovente, e a energia e vibração do duo protagonista envolve mesmo quando algumas cenas são demasiado longas e redundantes (com certos momentos excessivamente expositivos). De resto, os laços entre Thomas e Luc acabam por sobrepor-se a quaisquer outros que ambos possuem com outras pessoas, nomeadamente à relação com os seus companheiros, Claire e Vincent, respectivamente.
Intenso e claustrofóbico, "O Seu Irmão" é uma obra que, apesar de irregular (prejudicado, principalmente, por uma narrativa um pouco dispersa), é mais um recomendável título da filmografia de Patrice Chéreau e um dos bons dramas que o cinema francês ofereceu recentemente. Dificilmente será para todos os gostos, mas merece ser (re)descoberto.
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
terça-feira, agosto 23, 2005
NOITES DE VERÃO
Para começar bem a semana e combater a monotonia das segundas-feiras, fui com o mykerider, a magp e o Challenger às festas de Corroios para assistir ao concerto dos Blind Zero... e valeu a pena, num serão marcado por uma eficaz actuação da banda - que, mesmo assim, poderia ter apresentado mais canções do novo "The Night Before and a New Day", tornando o alinhamento mais diversificado -, cerveja (passo!) e farturas.
Tendo em conta que o cartaz cinematográfico actual não é dos melhores, foi uma boa alternativa, mas acho que vou dispensar o concerto de hoje, uma vez que o mítico Bonga não é propriamente um dos meus cantores preferidos. Caso gostem, passem por lá pelas 22h ;) Senão, façam como eu e tentem ir lá amanhã para ver os Da Weasel... Bons sons!
segunda-feira, agosto 22, 2005
HIPERTENSÃO
Uma das bandas mais interessantes a emergir do Reino Unido em finais dos anos 90, os Muse destacaram-se com um promissor álbum de estreia, "Showbiz", em 1999, e dois anos depois confirmaram que estavam à altura das expectativas com "Origin of Simmetry".
Após "Hullabaloo Soundtrack", um disco de raridades e de material gravado ao vivo, "Absolution", o terceiro registo de originais, editado em 2003, voltou a demonstrar a solidez do grupo.
Apostando num rock pujante e portentoso, cujas influências vão do alternativo ao progressivo, passando pelo grunge ou pela britpop, os Muse apresentam aqui mais um conjunto de canções plenas de adrenalina e vibração.
Algures entre os Radiohead e os Queen, percorrendo ainda territórios próximos dos dos Smashing Pumpkins ou Placebo, o trio composto por Chris Wolstenholme, Dominic Howard e Matthew Bellamy oferece mais um álbum de sonoridades grandiosas e barrocas, esquizofrénicas e megalómanas, apostando numa fórmula que tem demonstrado bons resultados.
"Absolution" apresenta atmosferas bizarras e excessivas logo no início, na portentosa fusão de guitarras e piano de "Apocalyplse Please", mistura que contamina outros momentos de visceralidade épica como "Stockholm Syndrome" ou "Butterflies and Hurricanes".
Embora contenha uma série de temas recomendáveis, carregados de uma intrigante tensão e agressividade, o disco não inova muito face aos seus antecessores, o que não é necessariamente mau - sobretudo quando a banda é eficaz -, mas também não permite gerar grandes doses de surpresa.
"Absolution" peca ainda por ser um álbum demasiado homogéneo, uma vez que quase todas as canções contêm ambientes rudes, tresloucados e explosivos, o que acaba por se tornar um pouco redundante e cansativo.
No entanto, mesmo não sendo excepcional, o terceiro disco de originais dos Muse possui atributos que o tornam recomendável, ainda que as canções funcionem melhor em pequenas doses.
De resto, só a soberba voz de Matt Bellamy já seria suficiente para elevar o grupo acima de boa parte da concorrência, evidenciando uma intensidade emocional que só alguns iluminados - Thom Yorke, Jeff Buckley ou Rufus Wainwright são as referências mais próximas - são capazes de transmitir (confirme-se, por exemplo, na sumptuosa "Blackout", a mais calma e melhor canção do disco).
Quando as composições da banda estiverem à altura dos méritos vocais de Bellamy, os Muse criarão álbuns de referência, se continuarem no nível qualitativo das presentes em "Absolution" continuarão a proporcionar um envolvente, ainda que algo irregular, rock abrasivo e teatral. De qualquer forma, ambos os casos indicam que este é um projecto a ter em conta e a seguir com atenção.
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
domingo, agosto 21, 2005
O ESTRANHO MUNDO DE WILLY
Um dos cineastas que, ao longo dos anos, tem definido e cimentado um universo próprio e repleto de sinais particulares, Tim Burton possui uma filmografia interessante mas também algo irregular, como as suas obras mais recentes – os pouco convincentes "O Planeta dos Macacos" ou "O Grande Peixe" - puderam atestar.
"Charlie e a Fábrica de Chocolate" (Charlie and the Chocolate Factory), a sua película mais recente, adapta o livro infantil homónimo de Roald Dahl e segue as peripécias de Charlie Bucket, um rapaz britânico pobre fascinado pela fábrica de chocolates Wonka (os melhores do mundo) e que ganha, numa tablete, um bilhete que lhe permite visitá-la.
Este prémio, partilhado por apenas mais cinco crianças em todo o mundo, abre-lhe as portas para um mundo envolto em mistério, uma vez que ninguém sabe como são os interiores da fábrica e o seu proprietário, Willy Wonka, é um multimilionário intrigante e atípico.
Misto de fantasia, drama familiar, comédia agridoce e mesmo algum suspense, "Charlie e a Fábrica de Chocolate" recupera a bizarria e excentricidade que tornaram Burton num realizador singular mas que já não se encontravam muito presentes nas suas últimas obras.
Felizmente, o cineasta reintroduz aqui a imaginação delirante, o desregrado humor negro e os envolventes ambientes góticos que o destacaram, tornando este no seu melhor filme desde o subversivo "Marte Ataca!".
Willy Wonka é um dos mais conseguidos elementos essa estranha peculiaridade, onde Johnny Depp compõe uma invulgar personagem cuja imagem contém tanto de Michael Jackson (!) como de José Castel-Branco (!!), escondendo-se por detrás de uma máscara de ironia que será derretida pelo calor emocional do jovem Charlie.
Apropriado para um público dos 7 aos 77, "Charlie e a Fábrica de Chocolate" é suficientemente ambivalente e ultrapassa territórios de um mero conto infantil, possibilitando mais do que uma leitura e focando temáticas que vão desde a desigualdade social às tensões das relações familiares, e Burton é especialmente incisivo na denúncia de alguns dos hábitos actuais das crianças (desde o egoísmo à excessiva competitividade, passando pela dependência de videojogos e da televisão).
Lúdico e pertinente, o filme cativa ainda pela soberba criatividade visual, especialmente inspirada nas surpreendentes atmosferas dos interiores da fábrica, propícios a uma imaginação sem limites que proporciona múltiplos pequenos prodígios.
Contudo, "Charlie e a Fábrica de Chocolate" possui também alguns elementos menos conseguidos, nomeadamente a construção das personagens, figuras demasiado lineares e esquemáticas, de escassa densidade emocional, onde apenas Willy Wonka e Charlie são a excepção (este último não tanto pela personagem - que não deixa de ser formatada - mas pela muito sólida e comovente interpretação de Freddie Highmore, ainda melhor do que a que o jovem actor tinha apresentado em "À Procura da Terra do Nunca").
Os números musicais dos Oompa-Loompas, embora contem com a composição do quase sempre recomendável Danny Elfman, são demasiado intrusivos e muitas vezes enfadonhos, e o músico sai-se francamente melhor nas partituras instrumentais.
Mesmo com estes factores que o desequilibram, "Charlie e a Fábrica de Chocolate" é ainda um título refrescante e um dos mais entusiasmantes do Verão de 2005, diluindo os limites entre o real e o onírico e gerando um saboroso blockbuster offbeat. Bem vindo de volta, Tim Burton.
sexta-feira, agosto 19, 2005
ELA É SÓ UMA RAPARIGA
Após ocupar durante anos a função de vocalista dos No Doubt, Gwen Stefani faz um hiato na colaboração com a banda para apostar num projecto paralelo, o seu percurso a solo. “Love.Angel.Music.Baby”, editado em finais de 2004, assinala a estreia em nome próprio, mas embora a cantora não conte aqui com o apoio da banda que a levou à fama recorre a uma vasta lista de colaboradores, onde se incluem Dr. Dre, the Neptunes, Linda Perry, Dallas Austin, Andre 3000 (dos Outkast), Nellee Hooper, Jimmy Jam & Terry Lewis e Tony Kanal (dos No Doubt).
Dando continuidade à ecléctica vertente fusionista presente no mais recente álbum dos No Doubt, “RockSteady”, Gwen Stefani apresenta um combinado de power pop, funk, new wave, hip hop, electro e R&B, enveredando por atmosferas sonoras geralmente dinâmicas e dançáveis.
Com uma produção minuciosa e sofisticada – outra coisa não seria de esperar tendo em conta a lista de colaboradores -, “Love.Angel.Music.Baby” não é tão sólido na composição, uma vez que o nível qualitativo das canções é tão desigual como os dos discos da banda da cantora.
Se por um lado a maioria dos temas são acessíveis, imediatos e facilmente trauteáveis, raros são os que ultrapassam a mera competência industrial e menos ainda os que deixam transparecer alguma substância por detrás do cuidado trabalho de maquilhagem, que tenta esconder os desequilíbrios da limitada voz de Stefani e das letras algo irrelevantes (embora tentem ser fashion, nomeadamente através de recorrentes referências japonesas ou à cultura urbana).
Outro problema é o facto de “Love.Angel.Music.Baby” ser um álbum que, ao tentar ser diversificado, acaba por se tornar demasiado fragmentado, e exibe mais os traços característicos dos colaboradores do que propriamente os da cantora, que não consegue definir aqui uma linguagem própria e vincada.
Assim, entre batidas hip-hop e sintetizadores de travo electropop, o disco resulta num trabalho algo indeciso, gerando um melting pot irregular que se aproxima de Madonna (a influência mais óbvia), New Order (que recusaram uma propsta de colaboração no disco), Missy Elliot, Garbage, Prince ou Blondie, mas com a desvantagem de, ao contrário dessas referências, não apresentar nada de novo.
Nem muito inspirada nem desastrosa, a estreia de Gwen Stefani a solo proporciona alguns bons momentos quando percorre sonoridades marcadas pelos anos 80, como em "Crash", “The Real Thing”, “Serious” ou “The Danger Zone” (provavelmente o ponto alto), mas não é tão interessante quando se aproveita dos clichés do R&B actual como em "Luxurious" ou nos cansativos singles “Rich Girl” ou “Hollaback Girl”.
Não resultando como um todo, mas ainda assim convencendo a espaços, “Love.Angel.Music.Baby” é um agradável - mas longe de irresistível - party album, que não chega ao nível dos discos de Madonna (embora tente) mas consegue ser mais entusiasmante do que os de outras figuras da pop mainstream apadrinhadas pela MTV, como Britney Spears, Pink ou Jennifer Lopez. Uma estreia curiosa a merecer algumas audições, de preferência em ambientes festivos.
E O VEREDICTO É: 2,5/5 - RAZOÁVEL
HEY JUDE
Deve ser do Verão, não sei, mas ultimamente muitos visitantes têm chegado a este blog através de procuras, em motores de busca, de palavras como "sexo digital", "sexo a três" e demais expressões aparentadas. Enfim, não me parece que encontrem aqui o que procuram, mas de qualquer forma deixo-lhes aqui uma foto de um dos nomes igualmente pesquisados com frequência ("Jude Law"). Mais do que isso só nos sites da especialidade :P
(Claro que o facto de escrever aqui essas expressões deve fazer com que caiam aqui mais visitantes equivocados, mas a net tem destas coisas) ;)
A INSUPORTÁVEL LEVEZA DO VAZIO
Co-produção da França e do Uruguai, “Orlando Vargas” é a primeira obra de Juan Pittaluga e centra-se na personagem que dá nome ao título, partindo desta para apresentar uma narrativa com consideráveis doses de melancolia e desencanto.
Nos momentos iniciais, o filme é promissor, uma vez que a fotografia e o trabalho de realização conseguem gerar uma curiosa atmosfera etérea e enigmática. Contudo, após os primeiros minutos, “Orlando Vargas” evidencia que, para além desses ambientes promissores, não tem mais nada de relevante para apresentar, perdendo-se numa excessiva carga contemplativa com muita pretensão mas escasso substrato.
As personagens não possuem densidade, uma vez que Pittaluga não parece muito preocupado em torná-las minimamente delineadas e trabalhadas, e por isso os actores também não podem fazer muito, ainda que a dupla Aurélien Recoing e Elina Löwensohn pareça merecer muito melhor do que o que tem aqui.
O argumento é esquemático e inconsequente, seguindo o quotidiano de Orlando Vargas, um homem com aparente prosperidade económica e familiar mas atormentado por antagonistas que o filme não chega a revelar.
Francês residente no Uruguai, o protagonista viaja com a sua família para uma cidade perto da fronteira com o Brasil e desaparece misteriosamente pouco depois de lá chegar. Pittaluga tenta gerar alguma tensão com esta súbita ausência da personagem, mas aí já é tarde demais pois o filme não consegue escapar ao marasmo e monotonia que o contaminaram entretanto.
“Orlando Vargas” parece, por vezes, sugerir uma reflexão envolvente acerca da solidão, do amor, das relações familiares ou do sentimento de perda, mas nunca chega a consegui-la, apostando numa narrativa frouxa carregada de silêncios redundantes e não expondo nada que o salve de uma enfadonha letargia emocional.
Assim, mesmo sendo uma película curta – com apenas 78 minutos – parece ter o dobro da duração, o que neste caso não é nada abonatório, uma vez que é um dos fortes candidatos a pior filme de 2005. Uma obra tépida e insípida, francamente desapontante.
E O VEREDICTO É: 0/5 - A EVITAR
quinta-feira, agosto 18, 2005
X-MAN
"Sexual, sintético, negro e melódico", é assim que Chris Corner, dos Sneaker Pimps, descreve o seu projecto paralelo I AM X, e na verdade as atmosferas das suas canções não andam muito longe disso, gerando uma fusão de electro, gótico, trip-hop, funk, industrial e pop ainda mais insinuante e sinistra do que a praticada pela sua banda.
Para conhecerem alguns temas do álbum, basta clicarem aqui. Recomendo especialmente "Kiss and Swallow" (título sugestivo, não?). Enjoy ;)
quarta-feira, agosto 17, 2005
MAIS UMA FAMÍLIA DISFUNCIONAL
Nos últimos anos, personagens da Marvel Comics têm sido transpostas da banda-desenhada para o grande ecrã de forma regular, e figuras emblemáticas da nona arte são, de resto, uma das novas grandes apostas de Hollywood actualmente (como o confirmam adaptações de ícones de outras editoras, como “Batman: O Início” ou “Sin City – A Cidade do Pecado”).
Assim, era uma questão de tempo até que os heróis de “Quarteto Fantástico” (Fantastic Four) saltassem do papel para a película, uma vez que compõem um dos grupos mais emblemáticos e antigos da Marvel.
Criados pela profícua dupla de Stan Lee e Jack Kirby na década de 60, a equipa distanciou-se de outros super-heróis ao incorporar elementos mais humanos e verosímeis nas suas aventuras, afastando-se um pouco de supra-sumos larger than life como o Super-Homem ou a Liga da Justiça e abrindo espaço para uma maior complexidade emocional.
Um dos elementos essenciais do grupo é relação dos seus elementos, que se comportam como uma família e expõem todas as tensões e dilemas inerentes a estas.
Esta característica viria a ser aplicada por Lee e Kirby noutras das suas criações, como os X-Men ou o Homem-Aranha, que também apresentavam uma densidade emocional incomum nos comics de super-heróis até então, mas para todos os efeitos o Quarteto Fantástico foi a equipa percursora desta inovação.
Mais de 40 anos depois do seu surgimento, “Quarteto Fantástico” torna-se agora num filme (houve um projecto realizado por Oley Sassone, mas foi praticamente ignorado), e apesar de aguardado com alguma expectativa pelos fãs o resultado tem sido alvo de críticas pouco abonatórias, ainda que seja um dos blockbusters mais mediáticos do Verão de 2005.
Contando com um tarefeiro indistinto na realização – Tim Story, cujo filme anterior foi o inane “Táxi de Nova Iorque” – e um elenco de nomes pouco carismáticos, o filme não contém assim bases que joguem muito a seu favor, mas apesar dessa limitação “Quarteto Fantástico” consegue ser uma adaptação bastante escorreita e eficaz, tornando-se num daqueles objectos que surpreendem talvez por não se esperar muito deles.
É certo que a perspectiva adoptada foi essencialmente lúdica e pouco profunda, que os factores da origem dos heróis foram um pouco alterados e que o filme não contém a carga dramática da saga de “Homem-Aranha”, de Sam Raimi; a sofisticação da visão de “X-Men” de Brian Singer; ou a carga intimista e experimental de “Hulk” de Ang Lee.
Contudo, “Quarteto Fantástico” resulta enquanto película de simples entretenimento despretensioso, não se preocupando em desenvolver questões existenciais presentes na maioria dos filmes de super-heróis.
Tim Story oferece um trabalho de realização impessoal, mas competente, conseguindo gerar um ritmo eficaz durante a maior parte da película; as interpretações não impressionam, mas também não envergonham ninguém; e a mistura de comédia e acção é suficientemente convincente.
Não será uma adaptação à altura do potencial que os quatro heróis possuem, mas é francamente mais interessante do que exemplos falhados como “Demolidor”, “Elektra” ou a saga de “Blade”.
De resto, o espírito das personagens é preservado e em alguns casos os actores saem-se especialmente bem, como Chris Evans, que encarna um Johnny Storm/ Tocha Humana irresponsável, egocêntrico e espirituoso q.b., ou Julian McMahon, que compõe um Victor Von Doom/ Dr. Destino apropriadamente sinistro e obsessivo.
O que "Quarteto Fantástico" não contém em densidade dramática é compensado pelo seu valor enquanto entretenimento bem confeccionado, que apesar de seguir o formato convencional dos filmes de super-heróis possui entusiasmo e imaginação capazes de gerar duas horas de diversão (cujos melhores momentos englobam a reacção dos protagonistas aos recém adquiridos poderes e à repentina fama que daí advém).
Quem esperar mais do que isso, no entanto, talvez deva escolher outra película, já que esta não engana ninguém e não é (nem pretende ser) mais do que um filme-pipoca, que mesmo com limitações é um dos blockbusters mais consistentes do Verão de 2005, quanto mais não seja pela gritante debilidade da maioria da concorrência, nada fantástica…
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
terça-feira, agosto 16, 2005
GIRLS' NIGHT
Vi há pouco mais um episódio de "Donas de Casa Desesperadas" (na FOX, porque já desisti das emissões da SIC), e voltou a convencer-me de que esta série se torna cada vez mais envolvente e viciante. Raras vezes a televisão terá oferecido uma mistura tão conseguida de comédia, drama e tragédia, com personagens verosímeis e com a carga de ambiguidade que uma série adulta requer.
QUEM TEM MEDO DA ÁGUA NEGRA?
Uma das apostas recentes de Hollywood têm sido os remakes de filmes oriundos do cinema oriental, sobretudo aqueles que se enquadram dentro do género terror/ suspense.
Títulos como "O Aviso", de Gore Verbinski, ou "The Grudge — A Maldição", de Takashi Shimizu, foram algumas das novas versões de películas japonesas, e "Águas Passadas" (Dark Water), a mais recente película do brasileiro Walter Salles, vem reforçar essa tendência, inspirando-se num original de Hideo Nakata.
A fita foca a relação de uma mãe e de uma filha, onde a primeira tenta obter a custódia da segunda e vive, por isso, numa recorrente fricção com o seu ex-marido.
Ao se mudarem para um novo lar nos arredores de Nova Iorque, as duas irão passar por alguns intrigantes episódios à medida que se apercebem que o imponente e obscuro edifício onde habitam foi palco de sinistras peripécias envolvendo ex-moradores do local.
Até aqui nada de novo, mas a tensão aumenta quando uma perturbante água negra invade, aos poucos, o apartamento das protagonistas e a sua presença torna-se cada vez frequente. Paralelamente, mãe e filha são atormentadas por alucinações e os limites do real e do imaginário começam a diluir-se, originando uma tensa espiral descendente.
Misto de thriller, terror e suspense, "Águas Passadas" é a primeira experiência de Walter Salles dentro do género, uma vez que as suas obras anteriores - das quais "Central do Brasil" e "Diários de Che Guevara" serão as mais emblemáticas - enveredavam por territórios do road movie e do drama.
Uma vez que os filmes anteriores do cineasta continham uma considerável carga emocional, tal poderá ter contribuído para que "Águas Passadas" contenha mais substrato dramático do que a maioria dos títulos aparentados que têm surgido ultimamente (basta compará-lo com o insípido "The Grudge - A Maldição").
De facto, a envolvente relação entre as protagonistas é um dos melhores elementos do filme, complementada pelos desempenhos seguros de Jennifer Connelly (uma das melhores actrizes norte-americanas dos dias de hoje) e da jovem Ariel Gade (numa interpretação promissora).
O restante elenco é igualmente sólido e inclui nomes como John C. Reilly, Pete Postlethwaite, Tim Roth, Dougray Scott, todos actores com provas dadas, e o trabalho de Salles na realização volta a convencer, conseguindo gerar apropriadas atmosferas de claustrofobia e paranóia. A fotografia sombria também ajuda na criação de ambientes arrepiantes e o cuidado com os cenários (com destaque para o assombroso prédio onde as protagonistas se alojam, que por vezes traz à memória “Sala de Pânico”, de David Fincher”) é assinalável.
Contudo, apesar de múltiplos bons ingredientes, "Águas Passadas" é uma película que apenas promete mas não chega a cumprir.
Se nos momentos iniciais e mesmo durante boa parte do decorrer da narrativa Salles consegue proporcionar um considerável clima de tensão e mistério, deita tudo a perder com a débil resolução, que após alguns finais falsos apresenta um desenlace francamente desapontante, recorrendo aos modelos espalhafatosos dos piores filmes de terror, destruindo a sobriedade presente na maior parte de "Águas Passadas" (o realizador revelou, no entanto, que o seu estúdio alterou a montagem final, e assim o seu projecto inicial não foi alcançado na sua plenitude).
Face a este evidente desequilíbrio, Water Salles oferece aqui uma experiência cinematográfica curiosa, mas abaixo do padrão que o cineasta tem apresentado. Ainda assim, "Águas Passadas" vale por alguns bons momentos de um conseguido desconforto, algo que já não pode ser dito acerca da maioria dos exemplos do género que têm surgido recentemente...
E O VEREDICTO É: 2/5 - RAZOÁVEL
HOT HOT HEAT
E pronto, acabou o fim-de-semana prolongado, com alguma praia à mistura :( Mas pelo menos já não tenho de enfrentar os dramas das segundas-feiras :)
domingo, agosto 14, 2005
QUINTETO FANTÁSTICO
Belo concerto, o que os Kaiser Chiefs apresentaram ontem à tarde na Fnac do Chiado. Que as canções de "Employment" eram boas já se sabia, mas quando interpretadas in loco por uma banda coesa e dedicada tornam-se ainda mais convincentes, sobretudo quando os temas escolhidos para este showcase são os mais consistentes do disco ("Na Na Na Na Naa", "Everyday I Love You Less and Less", "Modern Way", "I Predict a Riot", "Born to Be a Dancer" e "Oh My God").
O PREÇO DA FAMA
Autor de obras aclamadas como "Menos que Zero", "As Regras da Atracção", "Psicopata Americano" e "Os Confidentes", Bret Easton Ellis salientou-se na década de 80 como um dos escritores norte-americanos mais singulares da sua geração, proporcionando um olhar negro e corrosivo sobre certos aspectos das sociedades urbanas contemporâneas.
"Glamorama", editado em 1998, mantém a perspectiva corrosiva e cáustica acerca de alguns elementos da american way of life, demolindo em especial o culto das celebridades e os ambientes do star system actual.
Ellis apresenta as peripécias de Victor Ward/Johnson, um modelo em ascensão que tenta também desenvolver uma carreira de actor. Tal como a maioria das personagens criadas pelo escritor, o protagonista de "Glamorama" não é propriamente um ser humano de qualidades assinaláveis, uma vez que o egoísmo e o narcisismo são as suas principais características, mas Ellis consegue torná-lo num anti-herói suficientemente interessante e por vezes hilariante.
Uma vez que a acção é narrada por Victor, é mais fácil para o leitor tomar contacto com o seu mundo vincado por ambientes de frivolidade, onde a busca da fama é uma constante e a imagem sobrepõe-se a qualquer outro elemento. Se em obras anteriores Ellis retratava de forma irónica e satírica as atmosferas universitárias ou o quotidiano dos yuppies, aqui o alvo são os (pseudo)famosos e todos os que se esforçam por atingir tal estatuto, que o autor caracteriza sem quaisquer contemplações.
A primeira parte de "Glamorama" mergulha nas vedetas do showbiz nova-iorquino de finais dos anos 90 e segue o dia-a-dia de Victor, que decorre entre cocktails, filmagens, castings, festas e reuniões, onde a agitação é constante e a futilidade serve de acompanhamento.
Ellis oferece uma descrição minuciosa deste microcosmos, enumerando regularmente uma série de figuras que obtiveram os seus cinco minutos de fama e apostando também num obsessivo product placement e numa banda-sonora detalhada (elementos interessantes mas que podem fazer, no entanto, com que o livro se torne um pouco datado).
Assim, na sua rotina diária Victor encontra gente como Joaquin Phoenix, Uma Thurman ou Patrick Bateman (o protagonista de "Psicopata Americano"), entre outros nomes mediáticos desta esfera de estrelas.
Contudo, o livro não se esgota num olhar cortante sobre a banalidade que contamina as celebridades, pois "Glamorama" junta a esta comédia de costumes elementos de espionagem e suspense, uma vez que o clima de tensão se instala abruptamente e mantém-se até ao final.
O quotidiano boémio do imaturo e leviano protagonista é interrompido quando este aceita uma proposta (monetariamente compensadora) e viaja para a Europa na tentativa de localizar uma ex-colega de liceu, Jamie Fields.
Ao submeter-se a este desafio algo enigmático, Victor envolve-se numa complexa teia de conflitos e conspirações, uma vez que contactará de perto com operações terroristas cujos responsáveis são as figuras menos óbvias.
Denso e intrigante, "Glamorama" escapa a modelos convencionais e aposta numa narrativa surpreendente onde a imprevisibilidade é uma constante e os acontecimentos decorrem a um ritmo frenético. Se nas primeiras páginas o livro envereda por atmosferas leves, torna-se depois cada vez mais negro e claustrofóbico à medida que o mundo de Victor se desmorona aos poucos, tornando-o numa vítima de um sistema que ajudou a consolidar.
Ellis gera aqui uma obra ousada que descoordena não só o protagonista mas também o leitor, proporcionando uma sequência de acontecimentos com progressivas doses de bizarria e surrealismo.
Oscilando entre o humor negro e cruéis e arrepiantes descrições de catástrofes (as peripécias do último terço do livro são literalmente explosivas), "Glamorama" é uma obra envolvente como poucas, mas que nem sempre convence. Se por um lado a sinistra espiral de mistérios é absorvente, as suas resoluções não são as mais conseguidas, pois o desenlace não é dos mais inspirados e deixa muitas questões em aberto.
Esquizofrénico e desregrado, "Glamorama" possui um bom ritmo, uma série de momentos de antologia e um protagonista interessante de seguir, mas contém também alguns episódios repetitivos e inconsequentes que o tornam num livro desequilibrado.
Apesar do seu potencial não ser plenamente atingido, os seus méritos superam os defeitos, e Ellis proporciona aqui uma curiosa amálgama de temáticas, onde cabem a solidão, o consumismo, a cultura pop, a vertente descartável e efémera das relações, a violência, ou o hedonismo, todas abordadas com a acidez habitual do autor.
"Glamorama" não é um livro para juntar ao núcleo de obras essenciais, mas é suficientemente perspicaz, divertido e relevante para merecer que se percam algumas horas com ele. E dificilmente haverá uma mistura mais conseguida de "Pret-a-Porter" e "Clube de Combate" do que a que Ellis apresenta aqui...
E O VEREDICTO É: 3,5/5 - BOM
sábado, agosto 13, 2005
I PREDICT A RIOT
Antes de actuarem no Festival Paredes de Coura e de, juntamente com os Keane, fazerem a primeira parte do concerto dos U2, os Kaiser Chiefs proporcionarão um showcase na Fnac do Chiado hoje à tarde, pelas 18h30m.
"Employment", o álbum de estreia deste quinteto britânico, é uma das boas surpresas musicais de 2005, e espera-se que estes rapazes sejam igualmente convincentes ao vivo. Se calhar vou vê-los mais logo para confirmar... Quem mais vai???
A MINHA ESTAÇÃO PREFERIDA
Uma das boas surpresas do cinema independente norte-americano dos últimos anos, “A Estação” (The Station Agent) marca a estreia de Thomas McCarthy na realização e confirma que nem sempre é preciso trazer algo de ousado ou inovador para conseguir surpreender e conquistar.
Um olhar sobre o desencanto de um quotidiano rotineiro, as relações humanas, a esperança e a amizade, a película segue as peripécias do dia-a-dia de três personagens solitárias que encontram uns nos outros não necessariamente a solução, mas pelo menos uma via para combaterem a melancolia e amargura que caracteriza parte das suas vidas.
Finbar é um anão que, após a morte do seu melhor amigo, viaja para New Fountland, uma pequena localidade de New Jersey, onde passa a habitar uma estação de comboios abandonada que herdou deste. É nesse novo ambiente que trava conhecimento com Joe, um pacato e espirituoso dono de uma bar numa roulotte, e Olivia, uma mulher divorciada que tenta lidar com a morte do seu filho.
De alguma forma, estas três personagens foram marcadas por acontecimentos nefastos: Finbar é reservado e taciturno, receando relações próximas devido à constante humilhação a que é sujeito por ser anão; Joe não consegue fazer com que os que o rodeiam retribuam o altruísmo que irradia naturalmente; e Olivia é regularmente atormentada pelo sentimento de perda.
Aos poucos, o trio apercebe-se de que partilha mais semelhanças do que diferenças, e inicia uma amizade que expõe os melhores e piores traços de um considerável envolvimento emocional.
Thomas McCarthy proporciona uma primeira-obra simples e discreta, mas não banal, dando às personagens o destaque que estas merecem e convencendo sobretudo pela sólida direcção de actores, onde constam nomes pouco conhecidos, mas bastante talentosos, como Peter Dinklage (que compõe um complexo e intrigante Finbar), Bobby Canavale (muito credível como o cativante Joe) e Patricia Clarkson (que encarna uma Olivia tão absorvente como as suas participações em “Pedaços de uma Vida” ou na série “Sete Palmos de Terra”).
Se ao coeso elenco se acrescentar uma realização sóbria, um ritmo tranquilo, mas não enfadonho, e uma fotografia de apropriados tons secos e outonais, não se torna difícil de perceber porque é que “A Estação” foi uma das obras mais elogiadas de 2003, vencendo categorias no Festival de Sundance ou nos Independent Spirit Awards. Não é um filme revolucionário, mas é muito agradável, e evidencia que McCarthy é um realizador a ter em conta...
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
THE END IS THE BEGINNING IS THE END
quinta-feira, agosto 11, 2005
ROCK ON!
Após uma interessante estreia com "Pretty on the Inside", em 1991, e um soberbo segundo álbum, "Live Through This", em 1994, os Hole apresentaram, em 1998, mais um sólido e convincente disco, "Celebrity Skin".
Expondo uma sonoridade mais reluzente e polida do que os trabalhos antecessores - que evidenciavam consideráveis traços grunge, metal, rock e uma postura riot grrrl -, o terceiro registo de originais dos Hole proporciona doze canções que, apesar de mais acessíveis e poppy, não deixam de conter a força e fascínio habituais da banda.
Courtney Love pode não ser uma das figuras públicas mais afáveis e moderadas, mas enquanto vocalista e compositora exibe aqui um considerável carisma e pujança, esculpindo um conjunto de temas vibrantes cantados com notória entrega e empenho.
Os restantes elementos da banda são igualmente seguros, desde o soberbo guitarrista Eric Erlandson até às eficazes Melissa Auf Der Maur (que integrou depois os Smashing Pumpkins e iniciou uma carreira a solo), no baixo, e Patty Schemel, na bateria.
Embora sejam mais solarengas do que as da fase anterior dos Hole, as canções de "Celebrity Skin" possuem ainda substância e intensidade, focando questões como a fama, a indústria musical, o papel da mulher na sociedade e, claro, a sempre presente temática do amor, incontornável em qualquer disco de rock.
Entre abrasivas descargas de energia como "Playing Your Song" ou "Reasons to be Beautiful" (não muito distantes das atmosferas de "Live Through This"), envolventes e belíssimas baladas como "Petals" ou "Dying", exemplos de pop cristalina como "Malibu" e "Heaven Tonight", não esquecendo o efervescente single que dá nome ao álbum, "Celebrity Skin" evidencia uma banda coesa e destaca-se como um contagiante concentrado de rock.
A contribuição de Billy Corgan na composição de cinco canções, os sempre excelentes arranjos de cordas de Craig Armstrong e a irrepreensível produção de Michael Beinhorn contribuem também para que o nível qualitativo do disco seja ainda mais elevado.
Infelizmente, "Celebrity Skin" foi o último trabalho da banda, pois em 2002 Courtney Love anunciou a sua dissolução, mas pelo menos o grupo terminou em alta, oferecendo um dos discos nucleares de 1998 e um dos melhores testemunhos do rock de finais do milénio. Recomenda-se, por isso, a sua (re)descoberta e múltiplas audições...
E O VEREDICTO É: 4,5/5 - MUITO BOM
quarta-feira, agosto 10, 2005
SEXO, CANÇÕES E VÍDEO (DIGITAL)
"9 Canções" (9 Songs) chega a salas nacionais depois de alguma controvérsia internacional, uma vez que a película foca uma relação entre dois jovens carregada de música e sexo. O motivo de uma polémica considerável é, naturalmente, o segundo elemento, uma vez que muitos consideram que o mais recente filme de Michael Winterbotton mostra cenas de sexo como nunca tinham sido vistas antes num filme britânico, apostando numa forte carga explícita.
Acusado de pornográfico, banal e ofensivo segundo certos sectores da crítica e do público e defendido como uma obra corajosa e refrescante por tantos outros, "9 Canções" é daqueles títulos que dificilmente se tornam unânimes, como quase sempre ocorre com filmes que abordam o sexo de uma forma tão crua e directa.
O problema, contudo, é que nos últimos anos esse género de filmes tem surgido com uma frequência assinalável, o que pode colocar em causa a carga de novidade ou valor acrescentado do novo projecto de Winterbotton.
“Filmes-choque” devido ao teor sexual já se tornam bastante recorrentes, com resultados entre o muito bom (caso de "Os Sonhadores", de Bernardo Bertolucci"), o interessante ("Intimidade", de Patrice Chéreau, ou "Ken Park", de Larry Clark), o banal ("The Brown Bunny", de Vincent Gallo, ou "Romance", de Catherine Breillat) e o intragável ("Pola X", de Leos Carax, ou "Twentynine Palms", de Bruno Dumont).
"9 Canções" exibe, de resto, alguns pontos de contacto com "Intimidade", de Patrice Chéreau, uma vez que foca a relação de um homem e de uma mulher ambientada em Londres e que tem como principal (e único?) factor de união o sexo. Tal como Chéreau, também Winterbottom se aproxima aqui dos modelos do realismo britânico, apresentando uma forte dimensão intimista (para a qual contribui o recurso ao vídeo digital), mas também difere do filme do cineasta francês ao interligar o sexo com a música de uma forma que não se verificava em "Intimidade".
O filme de Winterbottom segue o relacionamento de dois jovens que se conhecem num concerto dos Black Rebel Motorcycle Club e mantêm depois uma ligação orientada pelo hedonismo, uma vez que a cumplicidade que partilharão é mais sexual do que emocional. As más línguas definem "9 Canções" como um mero intercalar de cenas de sexo (consideravelmente explícito) e excertos de concertos de oito bandas a que o par protagonista assiste.
De facto, o filme não proporciona muito mais do que isso, o que não seria necessariamente mau se a abordagem de Winterbottom tivesse alguma profundidade e tensão dramática. Contudo, momentos desses só surgem a espaços, uma vez que o argumento esquelético e a frágil construção de personagens não permitem que a película seja especialmente envolvente.
A forma como as canções acompanham, tematicamente, as fases da relação dos protagonistas é curiosa, e a vertente do-it-yourself do filme - com actores praticamente desconhecidos e um evidente low-budget - é apropriada para a criação de uma aura intimista, mas sem substrato dramático que acompanhe esses elementos "9 Canções" não consegue sobrepor-se à mediania e torna-se num filme falhado (apesar de tudo é, a espaços, um falhanço interessante).
É pena, porque canções excelentes como "The Last High", dos Dandy Warhols, "Jacqueline" e "Michael", dos Franz Ferdinand, ou "Love Burns", dos Black Rebel Motorcycle Club - entre outros recomendáveis temas dos The Von Bondies, Elbow, Primal Scream, Super Furry Animals e Michael Nyman - mereciam constar num filme à altura. Infelizmente não foi o caso, porque do clássico trio "sexo, drogas e rock n' roll", "9 Canções" só faz jus à última categoria. Enfim, já não se perde tudo...
E O VEREDICTO É: 2/5 - RAZOÁVEL
terça-feira, agosto 09, 2005
I'M BACK
E pronto, após este pequeno intervalo de uma semana e pouco espera-se que o blog volte agora ao ritmo habitual. Para trás ficam os dias de descanso em Portimão e Sesimbra, condimentados com praia e inércia q.b.... Amanhã regresso já ao trabalho e ao dia-a-dia lisboeta, assim como às salas de cinema (ou talvez não, porque já vi que não perdi grandes estreias neste período...).
Vão aparecendo que eu também ;)