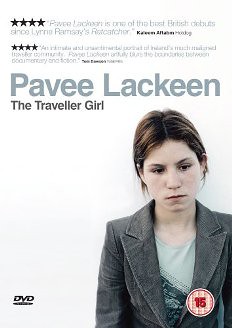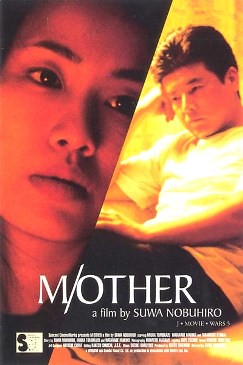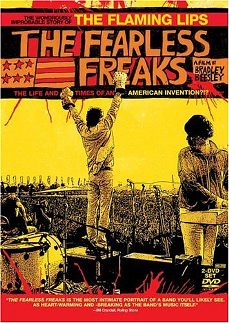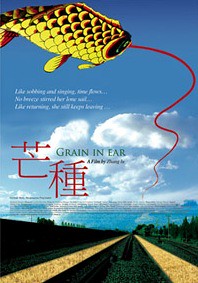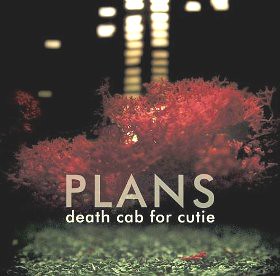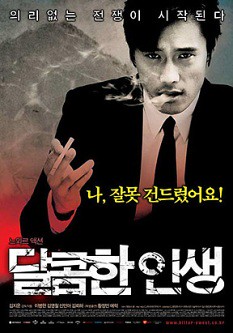Alvo de uma considerável divulgação mediática que o levou a ser objecto de polémica devido ao limitado rótulo de western gay, “O Segredo de Brokeback Mountain” (Brokeback Mountain) é mais denso do que essa fácil catalogação pode sugerir, apresentado a bela e melancólica história da relação de dois cowboys, vincada pela amizade, cumplicidade e amor.
Baseado num conto de Annie Proulx, o mais recente filme do taiwanês Ang Lee não é o manifesto gay com que muitos parecem querer catalogá-lo mas antes um sensível e complexo melodrama enraizado nas relações humanas, território que o realizador já provou ser capaz de explorar com solidez, inteligência e sobriedade, situação que aqui se manifesta novamente.
Após o aclamado e influente “O Tigre e o Dragão” e o subestimado, mas não menos interessante, blockbuster intimista “Hulk”, Lee afasta-se aqui de domínios ligados ao cinema de aventuras (inspiradas em lendas orientais ou em heróis dos comics norte-americanos) e oferece uma obra pontuada pelas dificuldades dos relacionamentos, temática já explorada, por exemplo, em “Comer Beber Homem Mulher” ou “A Tempestade de Gelo”, mas não desta forma. 
Retrato do absorvente afecto que nasce entre dois jovens contratados para guardar rebanhos durante o Verão de 1963 num rancho do Wyoming, a película desenvolve-se com assinalável noção de tempo e espaço, mergulhando na profunda ligação que os protagonistas constroem e nos entraves que a marcam ao longo de duas décadas.
Os episódios iniciais do filme, decorridos em Brokeback Mountain, são especialmente conseguidos, uma vez que deixam o duo entregue a si próprio e a uma solidão que se deteriora à medida que a empatia mútua cresce, o que suscita momentos de forte carga emocional e poética a que não é alheia a brilhante fotografia de Rodrigo Prieto, capaz de captar de forma ímpar a imponência e grandiosidade das paisagens.
Essa singular aura, onde o bucolismo e o lirismo se aliam à candura e ingenuidade, já não se encontra presente nos restantes momentos do filme, quando a dupla se separa reunindo-se apenas esporadicamente à revelia das suas esposas, mas nem por isso “O Segredo de Brokeback Mountain” deixa de proporcionar sequências de raro impacto emocional, mantendo um equilíbrio e uma subtileza dignos de nota.
Embora aborde a homossexualidade, questão que, para o bem e para o mal, é sempre associada à película e motivou a sua divulgação massiva, Ang Lee adopta uma perspectiva contida e discreta, recusando exibicionismos gratuitos e estando, assim, nos antípodas de um filme-choque.
Mais do que temas, o cineasta preocupa-se em explorar as ambiguidades e contradições das suas personagens e o resultado é bastante convincente, não só devido a um argumento bem trabalhado, que privilegia as inquietações humanas, mas também a uma soberba direcção de actores, com obrigatório destaque para os protagonistas.
Jake Gyllenhaal tem um desempenho brilhante na pele do idealista e obstinado Jack Twist, confirmando-se, mais uma vez, como um dos melhores actores da sua geração, mas o underacting de Heath Ledger, que encarna o circunspecto e lacónico Ennis Del Mar, é igualmente seguro, o que não se esperaria tendo em conta que o actor nunca havia interpretado um papel tão exigente (fruto dos projectos de escasso interesse em que participou).
Com duas personagens tão bem construídas e melhor interpretadas, era difícil “O Segredo de Brokeback Mountain” falhar, já que a rara entrega e intensidade que os dois actores incorporam em Ennis e Jack compõem a alma do filme e compensa alguns dos seus aspectos menos conseguidos, como o desenvolvimento algo superficial dos secundários, em particular o das esposas, que pedia mais relevo (apesar das competentes prestações de Michelle Williams e Anne Hathaway).
Rigoroso na concepção da narrativa, no retrato da América rural e dos dilemas conjugais, Ang Lee imprime ao filme um ritmo pausado, mas nunca monótono, enveredando por uma vertente contemplativa reforçada por uma hábil gestão dos silêncios e do peso da palavra.
Apenas uma cena soa a falso, aquela em que os dois amigos se reencontram pela primeira vez depois de terem partilhado a experiência de Brokeback Mountain, momento decisivo no desenvolvimento do filme mas demasiado forçado, não condizendo com a verosimilhança que se sente em todas as outras sequências.
Não obstante este episódio pouco credível, “O Segredo de Brokeback Mountain” impõe-se como uma das grandes obras cinematográficas de 2006, gerando um cru, emotivo e angustiante retrato da natureza humana, da infidelidade, do preconceito, da repressão emocional, dos laços de confiança e do amor proibido. Pode não ser o melhor filme do ano, mas tem lugar cativo na lista dos obrigatórios, de preferência não pela controvérsia que gerou mas pela qualidade acima da média que evidencia.
E O VEREDICTO É: 4/5 - MUITO BOM