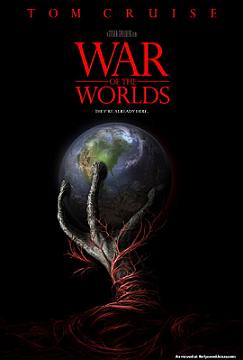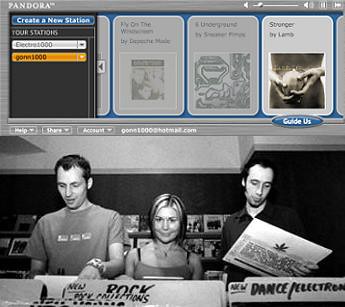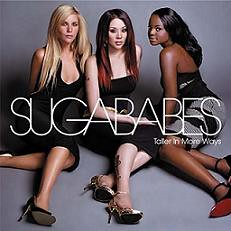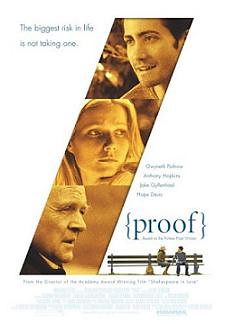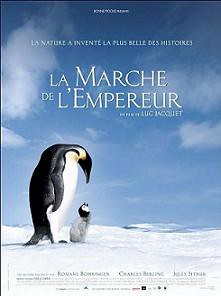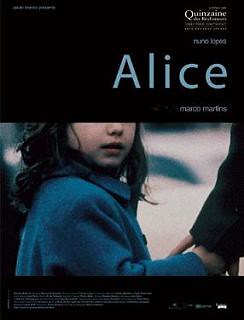Prometidas para breve ficam as obrigatórias listas de melhores de 2005 na música (apesar de muita me ter passado ao lado) e no cinema (que consumi avidamente). Até lá, bom final de ano e melhor entrada em 2006 para todos...
sábado, dezembro 31, 2005
2005: O FIM
Prometidas para breve ficam as obrigatórias listas de melhores de 2005 na música (apesar de muita me ter passado ao lado) e no cinema (que consumi avidamente). Até lá, bom final de ano e melhor entrada em 2006 para todos...
sexta-feira, dezembro 30, 2005
UMA AVENTURA EM NARNIA
Adaptação do primeiro livro de uma série de sete que marcaram a literatura infanto-juvenil do século XX, “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa: As Crónicas de Nárnia” (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) recupera a clássica obra de C.S. Lewis e transfere-a para o grande ecrã, apresentando uma história marcada pela fantasia, heroísmo, traição e a eterna luta do Bem contra o Mal, indispensável em qualquer conto de fadas.
Andrew Adamson, que aqui se estreia na realização a solo, foi um dos criadores de Shrek, mas se na emblemática saga do ogre verde os modelos das fábulas eram desconstruídos e satirizados, “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa: As Crónicas de Nárnia” aposta em domínios mais convencionais, seguindo de perto o registo do livro em que se baseia.
Esta proposta, que pretende atingir um público dos 7 aos 77, era um dos blockbusters mais aguardados de 2005, muito por culpa de rumores que o apontavam como um título capaz de superar a adaptação de “O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien, realizada por Peter Jackson. As proximidades entre as duas sagas são evidentes, não só porque os seus autores eram amigos mas também porque geraram obras que remetem para um imaginário semelhante, edificando mundos paralelos povoados por criaturas míticas, consideráveis doses de aventura e escapismo e uma fértil criatividade.
Os contos que decorrem no universo de Narnia são, não raras vezes, acusados de maior simplismo, mas esse factor não impede que o filme de Andrew Adamson seja uma muito conseguida proposta plena de entusiasmo, consistência e vibração, que embora siga uma narrativa linear e um formato clássico combina de forma eficaz a inovação tecnológica (não ostensiva) dos efeitos especiais com a densidade emocional necessária para que as doses de magia e encanto sejam envolventes.
Aos poucos, o jovem quarteto adapta-se a esse mundo recém-descoberto e vê-se envolvido numa outra guerra, esta contra a hegemonia da impiedosa Bruxa Branca, cuja tirania impede o bem-estar da maioria dos habitantes de Narnia.
“O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa: As Crónicas de Nárnia” poderia ter sido mais um subproduto ancorado apenas nos prodígios dos efeitos especiais e em imponentes cenas de batalha, mas Adamson evidencia cuidado com muitos outros elementos, desde a direcção de actores até ao ritmo necessário para que a acção decorra de forma credível e ponderada.
Os quatro protagonistas, quase todos interpretados por actores estreantes, conseguem ser cativantes e espontâneos, encarnando personagens que, apesar de jovens, não são tratadas com displicência e apresentam personalidades bem vincadas e distintas (bem longe, portanto, das insuportáveis figuras de uns “Spy Kids” e afins).
A actriz mais jovem, Georgie Henley, é especialmente encantadora, irradiando frescura e inocência e destacando-se como uma das grandes revelações de 2005. A veterana Tilda Swinton oferece uma composição não menos impressionante no papel da implacável, gélida e calculista Bruxa Branca, gerando uma das melhores vilãs dos últimos tempos.
Para além das personagens humanas, outro dos trunfos do filme são as animadas por CGI, provas de uma surpreendente mestria técnica. Desde o austero leão Aslan ao irresistível e espirituoso casal de castores, todas são convincentes, assim como os belíssimos cenários, muitos criados através do recurso ao ecrã azul, que já se vai tornando habitual (usado também, por exemplo, em “Sky Captain e o Mundo de Amanhã”, cujos primeiros minutos até são semelhantes aos de “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa: As Crónicas de Nárnia”).
É certo que a película chega a ser previsível a espaços, e que tratando-se de um conto de fadas o desenlace está praticamente definido à partida e os bons valores acabam por superar tudo, contudo a não-infantilização do argumento e das personagens não deixa de ser meritória, tornando “O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa: As Crónicas de Nárnia” numa bela, emotiva e divertida homenagem ao poder da imaginação, à confiança e à amizade, feita de forma genuína e com algumas das cenas mais bonitas do ano. Para ver sem preconceitos.
E O VEREDICTO É: 4/5 - MUITO BOM
quinta-feira, dezembro 29, 2005
OS PRÉMIOS LUMIÉRE ESTÃO A CHEGAR...
E esses trinta nomes, não são apenas nomes. Da politica ao jornalismo, da música ao cinema, passando pela sociedade civil, são trinta personalidades altamente apreciadas e respeitadas na blogosfera nacional. Porque os Lumiére agora são mais do que simples prémios de cinema. São também uma forma de aproximar a grande família dos blogs portugueses, que teima em não viver como uma comunidade.
Este primeiro passo pode ser pequeno, mas é feito com determinação e vontade de aproximar pessoas (e blogs), que aparentemente, pouco teriam a ver uns com os outros."
O Miguel acrescneta ainda que "cada blog - cada membro do jÚri - apresenta um top5, por ordem de preferência, em cada uma das treze categorias escolhidas. Ao primeiro de cada lista serão atribuídos cinco pontos, quatro ao segundo, três ao terceiro, dois ao quarto e um ao quinto e último nome. Os vencedores serão os que tiverem mais pontos, sob o ponto de terem sido, pelo menos uma vez, a primeira escolha de um dos membros.
(...) O dia 15 de Janeiro será o último dia de votação. Os vencedores serão anunciados simultaneamente em cada um destes trinta espaços no dia 28 de Janeiro de 2006."
As categorias sujeitas a votação são as de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Actor, Melhor Actriz, Melhor Actor Secundário, Melhor Actriz Secundária, Melhor Argumento, Jovem Promessa Masculina, Jovem Promessa Feminina, Melhor Filme Animado, Melhor Banda Sonora, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. Let the games begin...
sábado, dezembro 24, 2005
FELIZ NATAL/ MERRY X-MAS!
quinta-feira, dezembro 22, 2005
QUERIDA, ESCONDI OS MIÚDOS
Um dos filmes mais aguardados de 2005, “Guerra dos Mundos” (War of the Worlds) é a adaptação cinematográfica do emblemático e influente livro homónimo de H.G. Wells, uma das obras literárias que mais contribuiu para criar os arquétipos de uma já paradigmática vertente da ficção científica: o contacto entre a raça humana e seres alienígenas.
Curiosamente, essa nova perspectiva sobre a obra de Wells foi elaborada por um nome que criou já marcantes títulos cinematográficos que se inserem dentro desse género, Steven Spielberg, por isso estavam reunidos, à partida, os condimentos certos para o filme resultar.
Ora, se não chega a ser uma obra-prima, “Guerra dos Mundos” é, ainda assim, uma das mais estimulantes propostas de ficção científica do novo milénio, revelando um realizador que, apesar de irregular, possui um inegável savoir-faire e sabe como fazer um blockbuster que, embora recorra aos obrigatórios efeitos especiais (fenomenais, diga-se) e contenha múltiplas cenas de acção acelerada, não se limita a seguir os automatismos que orientam muitos tarefeiros dos dias de hoje e que apenas se preocupam em gastar as maiores quantias em explosões megalómanas, desconsiderando tudo o resto.
É certo que a temática das invasões extraterrestres está longe de ser algo novo, e mesmo que Wells tenha sido um percursor uma adaptação da sua obra corria o risco de trazer um sabor a requentado. Spielberg, porém, consegue que o filme não seja um déjà vu e proporciona um intrigante olhar sobre o contacto com o outro, a relação com o medo, a insegurança, o apocalipse e, claro, a família, referência indispensável nos seus trabalhos.
Esta mistura, se por um lado revela que a película tenta fazer com que as personagens não sejam meras figuras que percorrem uma série de etapas – algo que debilita muitos blockbusters -, também leva a que os dilemas gerados pelos laços familiares dos protagonistas nem sempre sejam desenvolvidos da forma mais conseguida, uma vez que, apesar dos esforços, as personagens não chegam a ser tão tridimensionais como se esperaria.
Tom Cruise, no papel de um pai cujo temperamento algo difícil não o impede de lutar para proteger sempre a sua família, apresenta um desempenho competente, assim como Justin Chatwin e a pequena Dakota Fanning, que encarnam dois jovens credíveis, contudo estes protagonistas são mais estereotipados do que refrescantes.
A personagem de Chatwin, em especial, carece de maior desenvolvimento, limitando-se a servir as conveniências do argumento e não tanto a definir um espaço singular na acção.
Esta limitação, assim como o desenlace anti-climático e pouco satisfatório, torna “Guerra dos Mundos” num filme irregular, característica que o impede de atingir a excelência que outros dos seus elementos sugerem. Não deixa por isso de ser um grande filme, já que Spielberg oferece um ritmo absorvente, com múltiplos momentos de prodigioso suspense vincado por um criativo trabalho de realização.
Há por aqui vários momentos de antologia, desde a cena em que Dakota Fanning se depara com os cadáveres no rio até ao arrepiante comboio em chamas, não esquecendo, claro, os tensos momentos em que a personagem de Cruise viaja com os filhos no automóvel.
Carregado de uma claustrofobia a que dificilmente se fica indiferente, “Guerra dos Mundos” é uma película arrojada e visceral (excepto no já referido final), que não tem medo de expor o melhor e o pior da humanidade, apresentando as atitudes que emergem quando a própria vida está em risco e todas as acções são orientadas em função disso, para o bem e para o mal.
Possuindo algumas das sequências mais asfixiantes vistas no grande ecrã em 2005, alicerçadas numa exímia gestão de cliffhangers e numa imbatível energia visual, o filme afirma-se como o melhor de Spielberg desde o brilhante “Relatório Minoritário” (este sim, provavelmente o melhor dos melhores), superando sem dificuldades a convencional mediania de “Apanha-me se Puderes” e “Terminal de Aeroporto”.
Não chega a ser o mais impressionante filme do ano, mas dizima todos os outros blockbusters com um profissionalismo à prova de bala (ou, no caso, de alienígenas).
terça-feira, dezembro 20, 2005
A NORA PRÓDIGA COM UM EX-SOGRO DO PIOR
Conhecido sobretudo pelos seus filmes mais académicos e politicamente correctos, como o pouco estimulante “As Regras da Casa” ou o francamente dispensável “Chocolate”, que mais não são do que (sub)produtos saídos da linha de montagem de (suposto) prestígio da Miramax, o sueco Lasse Hallström ameaçava, à custa dessas obras mais recentes, atirar o sua cinematografia para uma absoluta indistinção, limitando-se a seguir lugares-comuns e a apostar em sentimentalismos fáceis.
Contudo, em alguns títulos da fase inicial da sua carreira, o realizador chegou a oferecer motivos que o tornassem num nome a seguir, de que é exemplo o discreto e comovente drama “Gilbert Grape”, onde uns principiantes Johnny Depp e Juliette Lewis encarnavam personagens tridimensionais e um surpreendente Leonardo DiCaprio apresentava uma dos seus desempenhos mais conseguidos (e, curiosamente, um dos menos mediáticos).
“Uma Vida Inacabada” (An Unfinished Life), a sua nova proposta, recupera alguma da genuína e envolvente vibração emocional desse filme, contando uma história simples, mas consistente, assentando em personagens bem esculpidas, situações credíveis e numa subtil reflexão acerca dos laços familiares e da solidão, vincada por conflitos interiores, memórias amargas e tentativas de redenção.
Todavia, se por um lado Jean evita, pelo menos durante algum tempo, alguns dos seus problemas, logo que se apercebe que, ao chegar à sua nova casa, terá de lidar com muitos outros, que de resto se encontravam acumulados há já vários anos.
Hallström debruça-se aqui, mais uma vez, sobre as contrariedades e ambivalências das relações humanas, mas ao contrário do que ocorreu em nos seus últimos trabalhos consegue um resultado equilibrado e sensato, e embora algumas questões sejam abordadas e resolvidas de forma algo leve “Uma Vida Inacabada” possui uma série de momentos com uma forte carga dramática, mergulhando no âmago das suas personagens e gerando conflitos emocionais interessantes.
É certo que formalmente o filme não traz nada de novo, apostando numa narrativa convencional e num trabalho de câmara correcto e sóbrio, mas sem grande criatividade.
Hallström revela-se mais convincente através da inatacável direcção de actores, pois as interpretações de Morgan Freeman e, sobretudo, de Robert Redford (uma das melhores do ano) fazem com que “Uma Vida Inacabada” seja quase sempre estimulante, possuindo personagens de carne e osso, bem escritas e melhor encarnadas.
Até Jennifer Lopez, cujos méritos como actriz são algo duvidosos, é capaz de atingir um nível competente, e a pequena Becca Gardner é mais uma jovem promessa a confirmar. Saliente-se ainda a solidez dos secundários, onde constam presenças seguras como Josh Lucas (que já merecia um papel de maior escala) ou Camryn Manheim.
Sereno e contemplativo, “Uma Vida Inacabada” não é uma obra de génio mas também não é essa a sua pretensão, e se não torna Hallström num realizador especialmente inspirado é suficiente para o colocar entre os nomes a ter em conta no futuro, uma vez que este é um belo olhar sobre personagens desencantadas e entregues a si mesmas que, aos poucos, constroem a família possível (as plácidas paisagens do interior norte-americano, que não chegam muito ao outro lado do oceano, também ajudam).
“Duas Vidas e Um Rio”, do próprio Redford, ou “Uma Canção de Amor”, de Shainee Gabel (outro dos filmes mais injustamente ignorados de 2005), são referências próximas, mas não impedem “Uma Vida Inacabada” de ocupar um espaço singular que vale a pena descobrir e partilhar.
domingo, dezembro 18, 2005
SATURDAY NIGHT
... Madonna, Duran Duran, Táxi, Depeche Mode, Heróis do Mar, INXS, ... @ Plateau
sexta-feira, dezembro 16, 2005
CAIXA DE MÚSICA DIGITAL
É verdadeiramente viciante, e tem a vantagem de não conter só singles e canções emblemáticas mas também muitos lados-b e raridades, o que o torna num espaço a (re)descobrir com frequência, sobretudo tendo em conta o estado muito pouco saudável da maioria das rádios actuais, onde a novidade é encarada com suspeita e receio.
quinta-feira, dezembro 15, 2005
QUASE FALHADOS
Chegando a salas nacionais depois de ter sido quase unanimemente arrasado pela crítica norte-americana, “Elizabethtown”, o mais recente filme de Cameron Crowe, é, como o são a maioria das obras do realizador, mais um relato do quotidiano de pessoas aparentemente simples e palpáveis, que recorre a um ponto de partida que de refrescante não terá muito, propondo mais uma variação sobre o modelo boy meets girl.
Contudo, apesar de recorrente no cinema (e não só), esse é também o modelo que está na base de todas as grandes histórias já contadas e que aqui é trabalhado com especial engenho e sensibilidade, para o qual contribui, sobretudo, um cuidado tratamento do argumento, que embora parta de premissas pouco originais apresenta um desenvolvimento inesperado e cativante.
“Elizabethtown” é, em poucas linhas, um olhar sobre a experiência do falhanço de Drew, um jovem designer de uma grande empresa de calçado desportivo cujo projecto se revela um abismal insucesso, colocando em causa não só a sua carreira mas também a reputação dos seus colegas e patrões.
Face a esta abrupta desilusão, o suicídio surge como uma tentadora hipótese a considerar, mas não chega a ser consumado pois entretanto Drew depara-se com a notícia da morte do pai, sendo solicitado pela mãe e irmã para tratar do funeral na cidade-natal deste, Elizabethtown, para onde se desloca. As surpresas, no entanto, não acabam aqui, pois durante a viagem de avião Drew trava conhecimento com Claire, uma luminosa e desconcertante hospedeira que será uma figura determinante no seu percurso a partir daí.
Nas mãos de um qualquer tarefeiro de Hollywood, esta poderia ser a base para um filme igual a tantos outros e facilmente esquecível, mas Cameron Crowe, mesmo com uma filmografia irregular, já provou que é mais do que isso, e “Elizabethtown” é provavelmente o melhor exemplo para o confirmar.
Sim, o desenlace poderá ser previsível e o filme não é propriamente um prodígio de inventividade, mas tem uma assinalável capacidade para reciclar perspectivas sobre temas já por demais focados – o surgimento do amor, a morte, o conflito interior, o regresso às origens, a relação com a figura paterna, o crescimento, a singularidade da América profunda ou (a falta de) comunicação -, impondo-se como uma obra subtil e inteligente, mas também acessível e emotiva.
Baralhando os limites entre a comédia e o drama, alternando sequências de grande carga dramática com momentos espirituosos e reluzentes, recorrendo a personagens offbeat que não deixam de ser verosímeis (e sempre tratadas com um óbvio carinho e respeito) e a situações à partida desconcertantes mas que se revelam depois essenciais, “Elizabethtown” conta ainda com uma marca idealista que já é habitual nos trabalhos de Crowe, e que se apresenta bem mais equilibrada do que em alguns dos seus projectos anteriores (se o desequilibrado e algo meloso “Jerry Maguire” era um teste à paciência dos mais cínicos, aqui os riscos de enjoo são mais reduzidos).
Igualmente decisiva em todas as películas do cineasta é a banda-sonora, e “Elizabethtown” não é excepção, proporcionando um recomendável cardápio de canções clássicas e recentes, onde U2, Ryan Adams, Wheat ou Tom Petty convivem sem dificuldades e são perfeitas para as atmosferas do Kentucky, atingindo o pico de intensidade no inebriante epílogo.
Não se limitando a funcionar enquanto mero papel de parede com som, é evidente que, para Crowe, a música pode dar um contributo essencial para a expressão e definição de estados emocionais, ideia que, de resto, o par protagonista também partilha (atente-se ao presente que Claire oferece a Drew), tornando o intimismo do filme ainda mais conseguido.
Inevitável é, também, a referência ao contributo dos actores, em especial ao de Susan Sarandon, responsável por um dos momentos mais intensos (e obtusos) do filme, e aos do duo principal. Kristen Dunst já se distinguiu há muito de tantas outras meninas bonitas de Hollywood, voltando a oferecer um desempenho sem falhas e uma personagem atípica mas com a qual é difícil não sentir empatia, já Orlando Bloom é uma agradável surpresa, conseguindo uma composição segura e empenhada, apostando num underacting que o favorece e afastando-se dos limitados desempenhos que vincaram o seu percurso até aqui.
Hábil director de actores, Crowe congrega aqui dois protagonistas que possuem uma química visível e uma dedicação entusiasmante, o que faz com que a história de amor funcione e se eleve a uma das mais belas que se desenrolaram no grande ecrã em 2005. Em suma, quem procurar um filme delicioso não pode passar ao lado deste “Elizabethtown”.
segunda-feira, dezembro 12, 2005
(SUB)CULTURAS DE RUA
Num período em que o hip-hop se tornou num género musical em franca expansão, não se limitando às esferas marginais onde surgiu e ocupando cada vez mais espaço em meios mainstream, o cinema exibe algumas ressonâncias desse fenómeno, tanto através de interessantes exercícios dramáticos "8 Mile", de Curtis Hanson, onde Eminem se estreou como actor), produtos indistintos para consumo adolescente (“Honey”, de Bille Woodruf, ou “Ao Ritmo do Hip-Hop”, de Thomas Carter) e, também, de olhares documentais, de que é exemplo “Rize”, a estreia na realização de David LaChapelle, fotógrafo que já trabalhou com estrelas como Madonna, Pamela Anderson ou Christina Aguilera.
Contrariamente ao seu percurso percurso até agora, LaChapelle debruça-se aqui não em ícones do star system mas nos habitantes de bairros pobres dos subúrbios de Los Angeles, abordando a sua cultura a partir de novos tipos de dança nascidos nesses ambientes: o clowning e o krumping, vincados por movimentos ágeis, ultradinâmicos e rebuscados, unindo a destreza e a sensualidade.
Uma das poucas, e em alguns casos mesmo a única, alternativas viáveis aos constantes e quase inescapáveis apelos dos gangs, estas formas de dança proporcionam aos elementos mais novos um escape para o seu quotidiano precário e inquietante, servindo como meio que lhes permite expurgar a sua raiva e frustrações de um modo mais construtivo do que os habituais actos criminosos praticados por vários jovens revoltados.
Apresentando a evolução desta nova e espontânea expressão artística, “Rize” acompanha relatos dos primeiros dias, centrando-se em Tommy the Clown, o criador do clowning, assim como os diversos grupos de dançarinos rivais praticantes do krumping que se encontram propagados por vários bairros hoje em dia.
Para além da dança e da música, o documentário assenta em depoimentos de figuras locais e traça um credível retrato dos modos de vida deste microuniverso, geograficamente próximo de Hollywood mas com códigos bem distantes (e igualmente avessos à identidade postiça de muito do hip-hop com maior visibilidade).
Visualmente estimulante, embora não tanto quanto alguns trabalhos fotográficos de LaChapelle poderiam sugerir (cujo potencial só é atingido no vibrante genérico final), “Rize” vale não só por essa vertente mas também pela energia humana que contém, factores que compensam a redundância de algumas cenas (como as da competição, demasiado longas e cansativas) e pontuais impasses da narrativa e fazem desta uma boa primeira obra e mais uma prova do crescimento do género documental, que tem sido evidente nos últimos anos.
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
domingo, dezembro 11, 2005
sábado, dezembro 10, 2005
NOITE DE ESTREIA
Atenção: Hoje, sábado, à meia-noite, "Noite Escura" tem a sua estreia na televisão, na RTP1. Mesmo quem tenha resistências ao cinema português deve colocar os preconceitos de lado e dar uma oportunidade a este filme, que foi uma das melhores surpresas de 2004, apresentando um realismo, trabalho de actores, argumento, atmosfera e realização muito conseguidos. Mais detalhes aqui.
Mesmo não considerando a mais recente obra de João Canijo uma obra-prima, acho que os comentários da crítica foram justos:
"(...) o melhor filme de João Canijo e que devia ser estudado em qualquer escola de cinema (...) Notável, tal como os actores."
- António Cabrita (Expresso)
"Nem sociológico nem abjeccionista, sem «denúncia» nem lição de moral, NOITE ESCURA é o melhor filme de Canijo até agora"
- Eurico de Barros (Diário de Notícias)
"Dizer que NOITE ESCURA é um dos melhores filmes da história do cinema português não é um elogio - é uma evidência. O realizador João Canijo superou-se"
- José Miguel Tavares (Premiere)
Mas não há nada como julgarem por vocês próprios mais logo...
quarta-feira, dezembro 07, 2005
TEEN POP(ZINHA)
Há cinco anos “Overload”, o single de estreia de uma nova girls band, tomou de assalto as playlists da maioria das rádios, disseminando uma melodia contagiante e com mais risco do que grande parte das canções de outros projectos teen pop.
O videoclip, com alta rotação na MTV, beneficiou também do aspecto saudável, digamos assim, das três jovens cantoras, denominadas Sugababes, cujo álbum “One Touch”, produzido por Cameron McVey (colaborador e marido de Neneh Cherry), proporcionou mais dois ou três temas com a mesma frescura e vivacidade.
Dois discos depois, o trio composto por Keisha Buchanan, Mutya Buena e Heidi Range (ex-Atomic Kitten que substituiu Siobhan Donaghy) ataca de novo as playlists com “Taller in More Ways”, que mantém a acessibilidade e o apuro da produção dos antecessores, continuando a apostar na mesma combinação de pop, funk e R&B com electrónica q.b., contendo a espaços reminiscências do trip-hop e hip hop.
“Push the Button”, o primeiro single, não destrói as boas memórias de alguns outros de álbuns anteriores, casos dos certeiros “Freak Like Me”, “Round Round” ou “Hole in the Head”, contudo outros momentos de “Taller in More Ways” não conseguem estar à altura deste, sendo eficazes mas insistindo em desaparecer rapidamente da memória.
Ainda assim, os episódios mais dinâmicos são suficientemente apelativos, oferecendo uma competente bubblegum pop, satisfatória enquanto dura e sem grandes aspirações. “Gotta Be You”, “Red Dress” e “It Ain´t Easy” são disso exemplo, destacando-se da banalidade que contamina as restantes, na sua maioria baladas enfadonhas criadas a regra e esquadro para consumo adolescente pouco criterioso. “Ace Reject” e “2 Hearts” são as excepções, contando com soluções melódicas mais interessantes e subtis e uma maior entrega vocal.
Das letras não há muito a dizer, pois servem apenas de acompanhamento inane, no entanto, e ao contrário de muita da produção pop descartável, as Sugababes confirmam que têm vozes suficientemente competentes para cantar, o que não torna “Taller in More Ways” num bom disco mas permite-lhe ser um produto audível e tolerável, que não entusiasma mas também não ofende. É pouco, mas não se pode pedir muito mais a um quase guilty pleasure que, dentro do género, até está acima da média...
domingo, dezembro 04, 2005
COLISÃO
Apresentado na mais recente edição da Festa do Cinema Francês, "Reis e Rainha", de Arnaud Desplechin, já está em exibição nas salas nacionais.
THIS IS JUST A TEST
Eu tenho um excelente vocabulário.
Teste Seu Vocabulário.
Oferecimento: InterNey.Net
POBRE MENINA LOUCA
Embora tenha realizado outras películas, o britânico John Madden destacou-se sobretudo com “A Paixão de Shakespeare”, um filme sobrevalorizadíssimo e vencedor de sete Óscares, em 1998, que assinalou o maior equívoco cometido pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas americana durante a década de 90.
Já o seu filme seguinte, “Capitão Corelli”, de 2001, passou a leste das atenções, e agora o realizador regressa com “Proof – Entre o Génio e a Loucura”, reencontrando-se com Gwyneth Paltrow, a actriz que protagonizou a sua obra mais emblemática e que assume aqui de novo o papel principal.
Paltrow foi também a protagonista da bem sucedida peça de David Auburn em que o filme se inspira, encarnando Catherine, filha de um conceituado matemático recentemente falecido que aparenta ter herdado deste parte da sua genialidade assim como alguma da sua instabilidade emocional.
Para além de ter de superar os difíceis primeiros dias de luto, Catherine terá de voltar a contactar com a sua irmã mais velha, com quem mantém uma relação difícil, e de tentar compreender o que sente por um ex-aluno do seu pai que estuda os muitos apontamentos que este deixou.
Não é, portanto, pela inventividade do realizador que “Proof – Entre o Génio e a Loucura” se torna num filme interessante, mas antes pelo argumento que, mesmo não sendo revolucionário, é suficientemente sólido, assim como o são as interpretações de um elenco bem dirigido.
Paltrow volta a provar que é uma actriz meritória, oferecendo um desempenho convincente e compondo uma protagonista intrigante, mas o elenco de secundários é igualmente forte, contando com interpretações de um Anthony Hopkins pouco empenhado mas ainda assim seguro e de Jake Gyllenhaal, um dos melhores jovens actores norte-americanos que aqui encarna com eficácia mais uma personagem idealista (que, no entanto, o argumento poderia ter explorado mais). A interpretação mais surpreendente, contudo, é a de Hope Davis, num papel nos antípodas daquele que lhe deu alguma visibilidade em “American Splendor”, mas não menos conseguido e credível.
Oscilando entre o drama e a comédia sem cair em facilidades emocionais ou num humor óbvio, “Proof – Entre o Génio e a Loucura” pode não trazer nada de novo ao cinema mas pelo menos conta uma boa história de forma competente, com personagens e situações verosímeis, algo que nem sempre é muito habitual hoje em dia, pelo menos em domínios mais mainstream. Não torna John Madden num realizador especialmente marcante, mas permite que este se redima por ter gerado títulos tão inócuos e facilmente esquecíveis como o famigerado “A Paixão de Shakespeare”.
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
sábado, dezembro 03, 2005
O IMPÉRIO DOS SILÊNCIOS
Um dos nomes do cinema coreano actual com alguma visibilidade fora de fronteiras asiáticas, Kim Ki-duk tem consolidado uma filmografia marcada por obras pouco consensuais mas peculiares, como os recentes “O Bordel do Lago” ou “Primavera, Verão, Outono, Inverno… e Primavera”.
“Ferro 3” (Bin-jip/ 3-Iron), o seu novo filme, é mais um título que dificilmente deixará alguém indiferente, habilitando-se a despertar paixões incondicionais a par de rejeições quase absolutas, tendo em conta a sua atípica estrutura e conteúdo.
Um olhar sobre a solidão, a inadaptação e o amor, a película apresenta o quotidiano de um rapaz que invade casas quando os donos estão ausentes mas que nunca rouba ou danifica nada, limitando-se a habitá-las durante algum tempo e a realizar tarefas prosaicas.
Numa das suas habituais visitas, o protagonista, meticuloso e discreto, é surpreendido quando se apercebe de que esteve a ser observado, durante algumas horas, pela moradora de uma das casas onde se infiltrou, mas esta praticamente não reage à sua presença, trocando apenas olhares que denunciam uma contida mas profunda melancolia.
Nos primeiros minutos do “Ferro 3”, Kim Ki-duk consegue gerar uma aura invulgar e envolvente, proporcionando cenas intrigantes onde a indefinição do filme funciona a seu favor. O problema é que os ambientes de enorme silêncio e contemplação se tornam demasiado recorrentes e cansativos, tornando o filme num objecto excessivamente abstracto e não raras vezes maçador.
Há pontuais momentos inspirados, como a cena do abraço a três, mas encontram-se perdidos numa narrativa debilmente conduzida, vincada por um ritmo letárgico e um esoterismo desnecessário, que na tentativa de tornar a película ambígua faz com que esta descoordene ainda mais o espectador.
“Primavera, Verão, Outono, Inverno… e Primavera” também apresentava estas limitações, e infelizmente Kim Ki-duk mostra-se incapaz de as resolver agora, enveredando pelo mesmo tipo de ambientes etéreos e poéticos onde a fronteira entre o real e o onírico é difusa e nem mesmo a fugaz aproximação a territórios do thriller ou do fantástico é capaz de inserir alguma carga de surpresa.
Sobram ocasionais estilhaços onde a vibração dos olhares dos protagonistas supera tudo o resto (em especial o do promissor jovem actor Jae Hee) ou onde a energia visual e sonora gera sequências que parecem antecipar um rumo mais sólido para o filme. Rumo esse que, infelizmente, nunca a chega a delinear-se, não deixando “Ferro 3” ser mais do que um filme singular, mas falhado.
quarta-feira, novembro 30, 2005
IRMÃ, ONDE ESTÁS?
Com uma carreira já longa (o seu primeiro filme, “The Arousers”, estreou-se em 1970), Curtis Hanson é um cineasta que só conquistou os gostos de um público relativamente vasto e o respeito de grande parte da crítica com uma das suas películas mais recentes, “L.A. Confidential”, de 1997, ainda que obras anteriores como “A Mão que Embala o Berço” já o tivessem tornado num realizador curioso aos olhos de alguns.
Desde então, “Wonder Boys – Prodígios”, de 2000, e “8 Mile”, de 2002, ajudaram a que o seu nome se tornasse numa referência a seguir com atenção dentro do cinema americano actual, ideia que “Na Sua Pele” (In Her Shoes) vem agora reforçar.
Crónica das semelhanças e diferenças de duas irmãs, o filme assenta no percurso de Rose, a mais velha, responsável e dedicada a um emprego prestigiado mas com uma escassa vida social e amorosa; e Maggie, a mais nova, que acumula relacionamentos efémeros e uma vida profissional descoordenada. O elemento desencadeador da acção é uma decisiva discussão entre as duas, que faz explodir a considerável tensão que as envolvia e leva a que cortem os laços afectivos que até então as interligavam, para o bem e para o mal.
Claro que o facto do filme ter um elenco que inclui Toni Collette (compondo uma verosímil e cativante Rose) num dos papéis principais e Shirley MacLaine como secundária de luxo (que, ao contrário do que ocorreu no descartável “Casei com Uma Feiticeira”, não se sujeita a uma personagem sem substância) é uma preciosa ajuda.
Cameron Diaz, na pele de Maggie, concede não só o necessário star power (que não parece ter servido de muito, tendo em conta que o filme não foi alvo de grande adesão do público) mas também um dos desempenhos mais sólidos da sua carreira, comprovando que, mesmo não sendo uma actriz especialmente dotada, consegue ser convincente quando é bem dirigida e tem um papel à sua medida.
“Na Sua Pele” não é um filme que aceite muitos riscos, mas é um belo exemplo de cinema que, sendo mainstream, não se limita a funcionar enquanto um catálogo de clichés, abordando de forma segura, simultaneamente leve e inteligente, as dificuldades das relações humanas, em especial as vicissitudes dos laços familiares.
Hanson volta a evidenciar a sobriedade que tem caracterizado os seus últimos trabalhos, proporcionando uma obra acessível mas com algo a dizer e gerando uma equilibrada mistura de comédia e drama, com uma eficaz realização e banda-sonora a condizer (atente-se na escolha de “Stupid Girl”, dos Garbage, para o início do filme, em particular para as peripécias de Maggie).
E há por aqui, também, alguns diálogos muito inspirados, ora divertidos e irresistíveis (como os dos reformados da Florida), ora dolorosamente sarcásticos (muitos dos comentários de Rose acerca da irmã), reveladores de uma escrita fluida e bem carpinteirada (aplauso para Susannah Grant, que já tinha escrito, entre outros, o argumento de “Erin Brockovich”, de Steven Soderbergh).
A previsibilidade do desenlace e um ou outro momento onde o melodrama ameaça tornar-se de gosto duvidoso impedem que “Na Sua Pele” não chegue a impor-se enquanto um grande filme, mas o mundo (cinematográfico, pelo menos) seria decididamente um lugar melhor se a maioria da produção comercial norte-americana fosse assim tão agradável e vibrante.
UM DIA DE FOLGA
terça-feira, novembro 29, 2005
REVOLUÇÃO SEM MUDANÇA
Impondo-se como uma das mais curiosas bandas europeias nascidas na década de 90, os belgas dEUS desde cedo mostraram ser capazes de criar uma interessante sonoridade fusionista que tanto recorre ao indie rock como à folk, ao jazz ou à pop, gerando canções que por vezes assentam num desbragado experimentalismo a par de outras mais acessíveis e convencionais.
“Pocket Revolution”, o seu quarto álbum de originais, é o sucessor do soberbo e mal amado “The Ideal Crash”, de 1999, mas ao contrário desse registo algo atípico no percurso do grupo (recebido com alguma surpresa devido ao quase abandono de uma vertente rude das canções, vincado pelo decréscimo de momentos de descarga noise), não traz grandes alterações aos ambientes habituais dos dEUS, seguindo as mesmas referências que marcaram esse disco de ruptura mescladas com aquelas presentes em “Worst Case Scenario” ou “In a Bar, Under the Sea”.
Por um lado, a ausência de novidade resulta a seu favor, uma vez que a banda já provou ser consistente e credível nesse tipo de atmosferas, contudo lamenta-se que um projecto que sempre se destacou pela ousadia e inventividade – que por vezes nem geraram bons resultados, é certo, como o hermético EP “My Sister is My Clock” pode atestar – se apresente aqui tão acomodado aos seus próprios domínios.
A maioria dos temas não consegue ser tão impressionante como os de álbuns anteriores – não há aqui momentos de génio como em “The Ideal Crash” -, no entanto o cardápio sonoro mantém-se sugestivo e razoavelmente versátil, oscilando entre cenas de considerável tensão, como “Bad Timing”, uma boa porta de entrada para o disco (cuja progressiva explosão das guitarras remete para “Instant Street”) ou “If You Don´t Get What You Want”, que recupera a intensidade dos primeiros dias da banda.
As composições mais conseguidas, são, contudo, as mais calmas, onde os climas de introspecção são a companhia ideal para a voz de Tom Barman e as suas crónicas sobre experiências mundanas e as relações humanas. “7 Days 7 Weeks” e “Include Me Out”, serenas mas densas, são primas direitas de “The Magic Hour” e “Dream Sequence #1”, dois dos picos do álbum antecessor, e demonstram que os dEUS, mesmo não estando na sua fase áurea, ainda são talentosos escritores de canções.
“Pocket Revolution” não é, assim, um disco revolucionário, mas felizmente nem todos os bons discos precisam de o ser. Agora só se espera que não se tenha de aguardar mais seis anos pelo seu sucessor.
segunda-feira, novembro 28, 2005
A DESAPARECIDA
Assinalando o regresso de Jodie Foster ao grande ecrã, “Flightplan – Pânico a Bordo” é a segunda longa-metragem do alemão Robert Schwentke e propõe uma interessante, mas desequilibrada, experiência cinematográfica carregada de suspense e mistério centrada num voo atribulado.
Foster interpreta uma engenheira cujo marido faleceu há poucos dias e prepara-se para transportar o seu corpo de Berlim para Nova Iorque, viajando num novo e aperfeiçoado modelo de avião que ajudou a criar.
Os problemas começam quando, depois de um início de voo aparentemente pacato, a protagonista se apercebe que a sua pequena filha, que viajava consigo, desapareceu. Apesar dos esforços para encontrar a criança, empreendidos pelos comissários de bordo, esta continua sem dar sinal de vida, e a situação torna-se ainda mais inquietante quando os registos indicam que a mãe entrou no avião sozinha e que nenhum dos tripulantes se lembra de ter visto a menina.
Infelizmente, aquele que parecia ser um thriller inspirado vai perdendo o fôlego no último terço, terminando com um desenlace que, não sendo miserável, também não é o mais satisfatório.
Acumulando múltiplas situações inverosímeis e demasiado convenientes para o argumento, “Flightplan – Pânico a Bordo” acaba por ser um filme competente, mas rotineiro, com uma tensão dramática por vezes forçada e uma resolução que reduz o impacto de alguns momentos prévios.
Jodie Foster apresenta um desempenho seguro, ainda que repita os traços da personagem que encarnou em “Sala de Pânico”, de David Fincher, filme ao qual, de resto, “Flightplan – Pânico a Bordo” retira diversas ideias (a estrutura é bastante semelhante, mas em vez de num apartamento a acção decorre agora num avião).
Peter Sarsgaard e Sean Bean são presenças igualmente fortes, mesmo que a lógica formatada do filme não lhes permita desenvolver muitos as suas personagens.
Para além disto, o que fica desta película é a banda-sonora de James Horner algumas sequências bem trabalhadas e com uma angústia palpável, assim como um ou outro momento de inspiração da câmara de Schwentke. No geral, um entretenimento aceitável, mas ainda não foi desta – nem no recente “Red Eye”, de Wes Craven – que os filmes de suspense em aviões conseguem voltar a levantar voo.
OS SETE MAGNÍFICOS
Nos últimos anos, nomes como Ang Lee ou Zhang Yimou têm contribuído para que o público ocidental tome maior contacto com produções asiáticas, em particular o épico, género que é há muito trabalhado nessas cinematografias mas que permanecia relativamente distante de uma grande faixa de espectadores.
Tsui Hark, embora não tenha tido tanta visibilidade ultimamente, é considerado outro mestre do cinema chinês e regressa à realização com “Sete Espadas” (Seven Swords/ Qi jian), o primeiro capítulo de uma saga de vingança, amor, guerra e traição centrada num grupo de sete guerreiros a quem foram entregues espadas especiais que os ajudarão a combater mercenários enviados por um cruel oficial militar.
“Sete Espadas” é uma obra ambiciosa que equilibra cenas as obrigatórias sequências de artes marciais com múltiplas histórias de amor amarguradas e larger than life, suscitando uma reflexão acerca do poder, do heroísmo e da lealdade, mas Tsui Hark não consegue criar aqui o épico de grande fôlego que ambiciona.
É certo que há cenas de acção suficientemente abrasivas e pujantes, com batalhas bem coreografadas e filmadas, mas a superabundância de personagens (muitas mal aproveitadas) e de enredos torna a película difícil de digerir a espaços, uma vez que o argumento é algo confuso e disperso.
Aproximando-se do romantismo de “O Tigre e o Dragão” e da energia visual de “O Segredo dos Punhais Voadores” (a sombra de Akira Kurosawa também se faz sentir), “Sete Espadas” não é tão refrescante como essas referências, mas possui ainda uma solidez e eficácia assinaláveis, mesmo sendo um filme irregular que fica abaixo do seu potencial.
No entanto, esta versão, de 153 minutos de duração, foi encurtada, pois a original tinha 240, o que poderá explicar a ocasional desorientação a que o espectador está sujeito devido a um argumento que se sente não ter sido devidamente trabalhado. Uma proposta recomendável, de qualquer forma, pelo menos para apreciadores do género.
domingo, novembro 27, 2005
HÁ ANIMAIS QUE FALAM COMO NÓS
Surpreendente sucesso de bilheteira em França e nos Estados Unidos, “A Marcha dos Pinguins” (La Marche de L’ Empereur) é uma curiosa obra que coloca em causa os limites entre o cinema documental e ficcional e lança definitivamente o pinguim para o grupo de animais mais carismáticos do momento (algo que já se evidenciava, por exemplo, na longa-metragem de animação “Madagáscar” ou em vários anúncios publicitários).
O realizador e biólogo Luc Jacquet seguiu a travessia anual dos pinguins imperadores por territórios inóspitos da Antártida, apresentando os seus rituais de acasalamento, as constantes disputas entre fêmeas, o nascimento e os primeiros dias das crias, assim como as imprevisíveis e nefastas contrariedades que se atravessam no seu caminho, desde astutos predadores a problemáticas condições climatéricas.
“A Marcha dos Pinguins” é assim um filme onde cada imagem vale, sem dúvida, mais do que mil palavras (ou pelo menos, do que aquelas a que Jacquet recorre), envolvendo e deslumbrando através dos esplêndidos desertos de gelo e das impressionantes peripécias que marcam a viagem dos caricatos e perseverantes protagonistas.
A banda-sonora, da autoria de Émilie Simon, é tão bela como as imagens, oferecendo aconchegantes canções marcadas por electrónicas suaves e voz angelical, aproximando-se dos ambientes dos islandeses Múm ou de Emiliana Torrini e funcionando enquanto adequado complemento da vertente visual.
É pena, por isso, que a geralmente intrusiva voz off e a excessiva duração do filme façam com que, apesar de enriquecida por alguns momentos prodigiosos, “A Marcha dos Pinguins” seja uma obra repetitiva e, no fundo, apenas mais um feel-good movie simpático e por vezes comovente.
E O VEREDICTO É: 2,5/5 - RAZOÁVEL
sábado, novembro 26, 2005
SEGREDOS RECICLADOS
Editado no início de 2005, “The Secret Migration” é o sexto álbum de originais de uma banda que, ao longo de mais de dez anos, tem sido uma das referências obrigatórias do rock alternativo norte-americano, proporcionando discos com personalidade e ousadia que, mesmo não convencendo multidões, foram sempre acarinhados por um restrito mas fiel grupo de seguidores.
“The Secret Migration” dá continuidade aos ambientes mais luminosos e optimistas que caracterizaram o álbum antecessor dos Mercury Rev, “All is Dream”, de 2001, mas desta vez o carácter experimental e inventivo da banda é menos evidente, pois a maioria das novas composições envereda por estruturas mais lineares e radio-friendly, mantendo a aura de encanto e magia mas sem grandes doses de surpresa.
A voz de Jonathan Donahue, frágil e delicada, revela-se mais uma vez apropriada para as atmosferas agridoces que preenchem quase todo o disco, conseguindo emitir densidade emocional a momentos bucólicos e contemplativos, como a simples mas cativante “My Love”, ou a episódios com um vincado sentido de urgência, de que “Vermillion” é um dos melhores exemplos.
Apresentando uma série de histórias que diluem as fronteiras entre o real e o imaginário, geralmente mais reluzentes e esperançosas do que negras e depressivas (mas sempre pontuadas por alguma melancolia), “The Secret Migration” não desbrava novos rumos, recuperando traços não só da própria banda mas também de parentes próximos como os Flaming Lips (em “In the Wilderness”) ou Grandaddy (confira-se “The Climbing Rose”), no entanto afirma-se ainda como um álbum suficientemente sólido, provando que, mesmo em piloto automático e mais convencionais, os Mercury Rev continuam interessantes.
sexta-feira, novembro 25, 2005
OS SEGREDOS DOS SONHOS MIGRATÓRIOS
Num mês marcado por múltiplos concertos em salas nacionais, em particular nos lisboetas – de Sigur Rós a Devendra Banhart, passando por Emir Kusturica ou Coldplay, entre outros -, o dos Mercury Rev parece ter sido (injustamente) ofuscado, tendo em conta que o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, onde a banda actuou no passado dia 22, registou um número modesto de espectadores, que mal preencheram metade da sala.
A limitada afluência de público não impediu, contudo, que o grupo norte-americano demonstrasse entrega, coesão e empenho, percorrendo episódios-chave da sua discografia durante quase duas horas vincadas por um interessante cardápio sonoro bem complementado por uma sólida componente visual.
Mantendo em palco a aura misteriosa e encantatória que caracteriza os álbuns, os Mercury Rev surpreenderam até mesmo antes de iniciarem o concerto, uma vez que as primeiras imagens exibidas no ecrã centraram-se numa homenagem ao cinema dos anos 30, dando depois destaque a uma sucessão de capas de discos de músicos díspares, cujo espectro englobou David Bowie, Nina Simone, Chemical Brothers, Hüsker Du ou Galaxie 500, então acompanhadas pela inebriante “Lorelei”, dos Cocteau Twins.
Embora o novo disco não seja tão inspirado como os anteriores, ao vivo parte das suas canções resultaram, já que a energia e teatralidade do vocalista Jonathan Donahue, a par da eficácia dos restantes elementos, compensaram a monotonia e mediania de algumas das composições.
Canções como “In the Wilderness” ou “Vermillion” ganharam um interesse renovado, encorajando uma nova audição e eventual reavaliação do novo disco, mas os grandes momentos do espectáculo basearam-se em temas mais antigos, de “Deserter’s Songs” e “All is Dream”, casos do plácido e envolvente “Holes” e do igualmente cativante e melódico “Goddess on a Hiway”, assim como do emblemático “The Dark is Rising” (que encerrou o concerto com uma convincente alternância entre ambientes intimistas e épicos) e, sobretudo, do esplêndido “Tides of the Moon”, o pico de intensidade da noite, cujas brumas de intriga e onirismo foram complementadas por uma considerável visceralidade, assinalando uma versão ainda mais claustrofóbica do que aquela incluída no disco.
Apesar de dois ou três episódios de grande nível, o concerto teve também aspectos menos conseguidos, uma vez que as pontuais falhas de som, a qualidade apenas regular de algumas canções (de “The Secret Migration”) e certas sequências de imagens e frases dispensáveis projectadas no ecrã (próximas de duvidosas atmosferas new age que, de resto, contaminam a capa do novo álbum) desequilibraram a espaços uma noite que não deixou de ser bela e memorável.
No final, o público retribuiu a dedicação incansável da banda e aplaudiu de pé, mas sem histerismos desnecessários, terminando quase duas horas passadas entre histórias mirabolantes, segredos partilhados e estranhas fábulas em forma de música.
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
terça-feira, novembro 22, 2005
TONIGHT IT SHOWS
Trazendo consigo "The Secret Migration", o seu mais recente álbum, os Mercury Rev actuam hoje no Centro Cultural de Belém, naquela que promete ser uma noite de envolvente placidez outonal.
MELANCOLIA E TRISTEZA INFINITA
Vencedor do Prémio Regards Jeunes da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes de 2005, elogiado pela imprensa nacional e internacional e conseguindo números de espectadores bastante satisfatório nas salas, “Alice” tem sido defendido por muitos como um filme capaz de aliar os gostos da crítica e do público, fazendo a ponte entre o cinema de autor e comercial, algo raro no contexto cinematográfico português, cujas obras muitas vezes se situam em extremos.
E, se a película de estreia de Marco Martins expõe óbvias qualidades, corre o risco de se tornar vítima dessa valorização algo excessiva, uma vez que, apesar de bons elementos, evidencia também consideráveis limitações, sendo um trabalho interessante mas não um tour de force de recorte superior.
Colado à angústia e progressiva dilaceração emocional de um jovem casal que tenta lidar, há mais de meio ano, com o desaparecimento da filha, o filme proporciona um amargurado e soturno mergulho no sentimento de perda que daí advém, assim como no desgaste, persistência e obsessão, elementos omnipresentes no melancólico quotidiano de Mário e Luísa, para quem encontrar a pequena Alice se tornou no único objectivo das suas vidas.
Revelando a rotina do diária do duo central, “Alice” segue o percurso obstinado de Mário, que mantém há meses uma estratégia que o ajuda a não perder a esperança, registando através de múltiplas câmaras de vídeo o fluxo de pessoas em vários locais de Lisboa na tentativa de, entre os milhares de cidadãos filmados, encontrar pistas acerca do paradeiro da sua filha.
Marco Martins coloca no seu filme uma série de questões pertinentes, desde a solidão urbana vincada pelo anonimato, indiferença e falta de comunicação; o poder da imagem e a eficácia dos sistemas de vigilância ou as consequências de uma perda súbita e violenta.
Apesar de promissores, estes temas acabam por ser mais sugeridos do que eficazmente explorados, pois a narrativa circular e o argumento algo esquemático levam a que “Alice” seja uma obra cansativa e a espaços difícil, onde a rotina do dia-a-dia dos protagonistas – repetida até à exaustão – se torna previsível e monótona para o espectador.
Percebe-se o intento de reforçar a claustrofobia e tensão que contaminam o quotidiano do casal, mas tal seria mais estimulante se o filme não se perdesse num saturante piloto automático, desaproveitando o seu potencial dramático..
Esta forte limitação não impede que “Alice” cative e envolva, já que Martins é bem sucedido na direcção de actores, tanto dos secundários – Miguel Guilherme, Ana Bustorff ou Gonçalo Waddington são alguns dos nomes fortes – como dos principais. Beatriz Batarda compõe uma surpreendente encarnação do desespero e desolação e Nuno Lopes, em quem o filme se baseia durante a maior parte do tempo, tem um desempenho competente, que se revela mais conseguido nos momentos de silêncio do que naqueles marcados pelo diálogo, sendo expressivo e credível nos olhares e expressões mas não tanto na colocação da voz.
“Alice” vale também pelo soberbo sentido atmosférico, dando a conhecer uma Lisboa de tonalidades azuis e acinzentadas, expondo uma componente estilizada que se coaduna na perfeição com a aura de desilusão e tristeza que se dissemina pelo duo central (e, embora de forma não tão carregada, pelas restantes personagens), próxima de ambientes de Wim Wenders ou Jim Jarmusch.
O apuro da realização e da fotografia geram pontuais momentos de uma inspirada plasticidade e energia visual, que complementada pela delicada e comovente banda-sonora de Bernardo Sassetti conduz a sequências de antologia, que infelizmente são acompanhadas por outras onde a vertente monocórdica do argumento impera.
Frágil e desigual, “Alice” pode não ser a obra-prima que tarda a aparecer no cinema português dos últimos anos mas também está bem acima da mediocridade, sendo uma primeira longa-metragem promissora e um inquietante olhar sobre o entorpecimento emocional de dois jovens adultos perdidos numa espiral descendente.
Pena que os seus ocasionais momentos caracterizados por uma visceral carga dramática se encontrem cercados por outros que apenas geram apatia, caso contrário “Alice” poderia ter sido um filme seminal em vez de uma estreia na realização a que se dá o benefício da dúvida.
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM
segunda-feira, novembro 21, 2005
OS MENINOS DANÇAM?
Depois de, em 2004, terem surpreendido tanto o público como a crítica através de um contagiante e energético álbum de estreia, os escoceses Franz Ferdinand regressam agora já com um segundo disco, oferecendo mais um conjunto de canções catchy e apelativas, caracterizadas por um rock portentoso e muito dançável.
À semelhança do seu antecessor, “You Could Have it So Much Better” é um concentrado de dinamismo e vibração, onde quase todos os temas possuem o apelo e imediatismo necessários para se tornarem em singles imbatíveis tanto em playlists radiofónicas como nas pistas de dança.
No entanto, apesar de ser um sólido party album onde o quarteto comprova a sua sensibilidade pop, este regresso perde na comparação com o disco de estreia, pois repete a fórmula que tornou “Franz Ferdinand” num registo tão refrescante e carismático, investindo quase sempre nos mesmos ambientes e sonoridades e não se desviando muito da amálgama new wave/ indie rock/ funk/ brit pop que marcou canções cristalinas como “Michael” ou “This Fire” (proporcionando assim mais do mesmo, como ocorreu nos segundos trabalhos dos The Strokes ou Interpol).
Mesmo não estando à altura do álbum anterior, “You Could Have it So Much Better” ainda é capaz de arrasar grande parte da concorrência, uma vez que contém alguns momentos irresistíveis como “Do You Want To”, um dos singles do ano, o não menos envolvente “What You Meant” ou o atmosférico “Outsiders”, um dos raros episódios apaziguados, embora conte ainda com um ritmo viciante.
A maioria dos restantes temas possui também melodias criativas q.b. e refrões pujantes e trauteáveis, sendo embaladas pela soberba voz de Alex Kapranos, mas não é especialmente memorável, aproximando-se mais de uma competente mediania onde os rasgos de génio são apenas pontuais.
“You Could Have it So Much Better”, não sendo brilhante, é bastante agradável e compensa a falta de novidade com uma boa disposição (não obstante ocasionais doses de melancolia) a que é difícil ficar indiferente, confirmando a consistência de uma banda que poderia ter feito, apesar de tudo, muito melhor. Esperemos que venha a fazê-lo.
E O VEREDICTO É: 3/5 - BOM