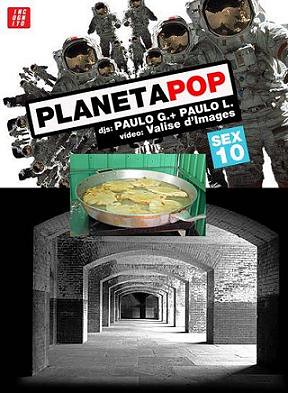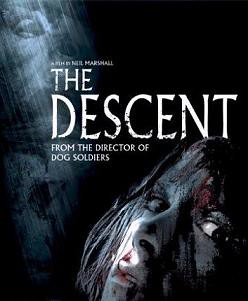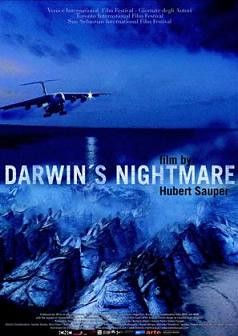O primeiro tema, “High Rise”, dominado por inesperados ambientes abrasivos resultantes do recurso às guitarras, sugere desde logo que os Ladytron de “Witching Hour” sofreram mudanças.
Essa primeira impressão confirma-se ao escutar os restantes temas do terceiro disco de originais do quarteto de Liverpool, que se nos registos anteriores provou ser uma das forças mais inventivas do electropop actual continua agora a surpreender ao apresentar ligações mais vincadas ao rock, não implicando isso um abandono da sonoridade que os distinguiu, mas uma melhoria desta.
“604”, de 2001, foi um dos bons álbuns de estreia do início do novo milénio, caracterizado por uma apelativa e complexa pop digital, a que “Light & Magic” deu continuidade um ano depois, sobrepondo as sombras à luz mas conservando as melodias viciantes.
“Witching Hour” é um ilustríssimo sucessor desses dois promissores testemunhos, destacando-se como o disco mais consistente dos Ladytron. A banda já havia provado ser exímia na construção de rebuçados pop perfeitos e agridoces, que apesar de acessíveis e directos não se esgotavam ao fim de algumas audições. Do emblemático “Playgirl” a “He Took Her To a Movie”, passando por “The Reason Why” ou “Flicking Your Switch”, boas propostas não faltavam. Faltavam, sim, álbuns que mantivessem sempre a intensidade desses grandes momentos, algo que nem “604” (prejudicado por diversos interlúdios) nem “Light & Magic” (demasiado longo e com composição irregular) conseguiram proporcionar. “Witching Hour” lima essas arestas e revela-se um portentoso exemplo de uma banda em ebulição criativa ao manifestar solidez do início ao fim, oferecendo um apetitoso cardápio de canções. 
Mais atmosférico e menos clínico do que os seus antecessores, é um disco já não tão próximo de referências da pop electrónica, como os Human League ou Kraftwerk, mas antes de nomes associados ao indie rock e shoegaze, estabelecendo elos fortes com os Lush ou os Curve.
A melancolia continua a ser o sentimento dominante, mas agora a postura das vocalistas Helen Marnie e Mira Aroyo é menos apática e distante, gerando episódios de maior dramatismo e introspecção. Lamenta-se que Aroyo esteja menos presente do que o habitual, cedendo o protagonismo a Marnie, mas a cantora búlgara consegue, ainda assim, triunfar e inquietar no soberbo “Fighting in Built Up Areas”, uma assombrosa canção elíptica onde a banda integra influências industriais, aliando-as a um irresistível apelo dançável com um efeito devastador.
“Sugar” é um momento não menos intenso, dominado por sonoridades mais agressivas do que as dos singles anteriores dos Ladytron, com um muito conseguido cruzamento entre as repetitivas frases cantadas por Helen Marnie e o turbilhão visceral das guitarras, que a espaços quase sugere o efeito da imponente wall of sound de uns My Bloody Valentine.
“Beauty*2”, diametralmente oposta, mais pausada e contemplativa, expõe uma tensão emocional raras vezes emanada pelo grupo, edificando um dos momentos mais amargurados do disco. A amargura, assim como a solidão e o isolamento, também se encontram presentes em “AMTV”, embora este seja um tema mais interligado a domínios electroclash (com que muitos quiseram rotular a banda, mas que se evidencia como uma catalogação redutora).
Pontuado por diversas canções de elevado calibre, “Witching Hour” contém, no entanto, duas praticamente insuperáveis: “Destroy Everything You Touch”, um magnífico exercício electropop e sério candidato a melhor single de sempre do grupo; e “International Dateline”, um invernoso, claustrofóbico e angustiante lamento em forma de música, ambos com uma genial configuração e manipulação de texturas que pedem múltiplas audições.
Absorvente, onírico e constituído por vibrantes brumas e melodias, “Witching Hour” é não só o melhor disco dos Ladytron mas também um dos mais estimulantes de 2005, um concentrado da melhor pop que consolida o jovem quarteto como um dos nomes vitais do cenário musical actual. Indispensável.
E O VEREDICTO É: 4/5 - MUITO BOM