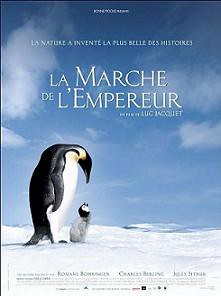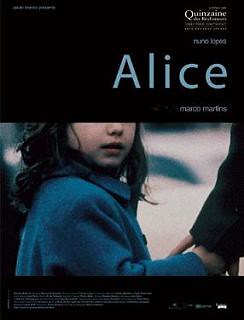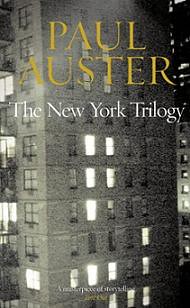Com uma carreira já longa (o seu primeiro filme, “The Arousers”, estreou-se em 1970), Curtis Hanson é um cineasta que só conquistou os gostos de um público relativamente vasto e o respeito de grande parte da crítica com uma das suas películas mais recentes, “L.A. Confidential”, de 1997, ainda que obras anteriores como “A Mão que Embala o Berço” já o tivessem tornado num realizador curioso aos olhos de alguns.
Desde então, “Wonder Boys – Prodígios”, de 2000, e “8 Mile”, de 2002, ajudaram a que o seu nome se tornasse numa referência a seguir com atenção dentro do cinema americano actual, ideia que “Na Sua Pele” (In Her Shoes) vem agora reforçar.
Crónica das semelhanças e diferenças de duas irmãs, o filme assenta no percurso de Rose, a mais velha, responsável e dedicada a um emprego prestigiado mas com uma escassa vida social e amorosa; e Maggie, a mais nova, que acumula relacionamentos efémeros e uma vida profissional descoordenada. O elemento desencadeador da acção é uma decisiva discussão entre as duas, que faz explodir a considerável tensão que as envolvia e leva a que cortem os laços afectivos que até então as interligavam, para o bem e para o mal.
Claro que o facto do filme ter um elenco que inclui Toni Collette (compondo uma verosímil e cativante Rose) num dos papéis principais e Shirley MacLaine como secundária de luxo (que, ao contrário do que ocorreu no descartável “Casei com Uma Feiticeira”, não se sujeita a uma personagem sem substância) é uma preciosa ajuda.
Cameron Diaz, na pele de Maggie, concede não só o necessário star power (que não parece ter servido de muito, tendo em conta que o filme não foi alvo de grande adesão do público) mas também um dos desempenhos mais sólidos da sua carreira, comprovando que, mesmo não sendo uma actriz especialmente dotada, consegue ser convincente quando é bem dirigida e tem um papel à sua medida.
“Na Sua Pele” não é um filme que aceite muitos riscos, mas é um belo exemplo de cinema que, sendo mainstream, não se limita a funcionar enquanto um catálogo de clichés, abordando de forma segura, simultaneamente leve e inteligente, as dificuldades das relações humanas, em especial as vicissitudes dos laços familiares.
Hanson volta a evidenciar a sobriedade que tem caracterizado os seus últimos trabalhos, proporcionando uma obra acessível mas com algo a dizer e gerando uma equilibrada mistura de comédia e drama, com uma eficaz realização e banda-sonora a condizer (atente-se na escolha de “Stupid Girl”, dos Garbage, para o início do filme, em particular para as peripécias de Maggie).
E há por aqui, também, alguns diálogos muito inspirados, ora divertidos e irresistíveis (como os dos reformados da Florida), ora dolorosamente sarcásticos (muitos dos comentários de Rose acerca da irmã), reveladores de uma escrita fluida e bem carpinteirada (aplauso para Susannah Grant, que já tinha escrito, entre outros, o argumento de “Erin Brockovich”, de Steven Soderbergh).
A previsibilidade do desenlace e um ou outro momento onde o melodrama ameaça tornar-se de gosto duvidoso impedem que “Na Sua Pele” não chegue a impor-se enquanto um grande filme, mas o mundo (cinematográfico, pelo menos) seria decididamente um lugar melhor se a maioria da produção comercial norte-americana fosse assim tão agradável e vibrante.