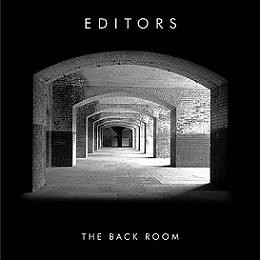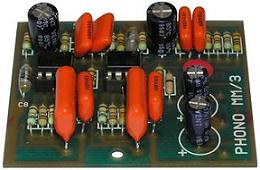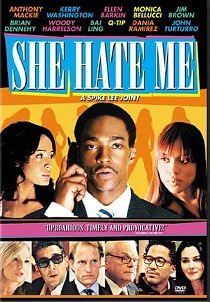A julgar pelo trailer e restantes elementos promocionais, “Serenity” poderia parecer, à primeira vista, mais um blockbuster formulaico e indistinto executado por um qualquer tarefeiro de Hollywood e destinado a saciar os interesses de quem se deslocasse às salas de cinema para devorar mais um filme-pipoca.
Contudo, esta proposta cinematográfica é mais peculiar do que um olhar superficial sugere, uma vez que é uma transposição de uma série televisiva, “Firefly”, exibida nos EUA e cancelada ao 11º episódio.
Embora os resultados das audiências não terem sido especialmente marcantes, a série foi alvo de um considerável interesse quando foi editada em DVD, encorajando a continuidade da saga no grande ecrã.
Outro elemento curioso do filme é o facto de ser a estreia na realização de longas-metragens de Joss Whedon, criador não só de “Firefly” mas de outras séries televisivas de culto como “Buffy, a Caçadora de Vampiros” e “Angel”, contando ainda com uma sólida carreira de argumentista para cinema (“Toy Story” ou “Titan A.E.”) e banda-desenhada (em “Astonishing X-Men”, assinalando uma das mais elogiadas fases dos heróis mutantes dos últimos anos).
Centrando-se na tripulação da nave Serenity, o filme segue as suas mais recentes atribulações, que envolvem o auxílio a dois fugitivos da Aliança – a entidade que detém o poder -, iniciando assim uma conturbada batalha recheada de múltiplos momentos de tensão.
Apesar de não pisar território novo – as influências de “Star Wars” e “Star Trek”, por exemplo, são evidentes -, “Serenity” possui uma energia contagiante, pois Whedon relega os efeitos pirotécnicos para segundo plano e prefere basear-se sobretudo nas personagens, que trata com um sentido respeito e devoção.
Contudo, o desenvolvimento das personagens, embora seja mais denso do que o que ocorre em muitas obras semelhantes, não chega a ser plenamente conseguido, já que o elenco é demasiado extenso e nem todos têm “tempo de antena” suficiente.
Este factor não será problemático para quem viu a série, mas poderá causar alguns entraves – principalmente nos primeiros minutos - a quem vê o filme sem ter conhecimento prévio do status quo da acção.
Mesmo assim, “Serenity” é ainda um título bastante recomendável, marcando o início de uma nova space opera – estão prometidas novas aventuras – que incorpora a economia narrativa, ousadia e carácter lúdico da série-B e o sentido de grandiosidade e sopro épico que faltou aos mais recentes episódios de “Star Wars”.
O filme exibe, a espaços, sinais do seu orçamento limitado e conta com um elenco irregular – Chiwetel Ejiofor compõe eficazmente um vilão mais ambíguo do que o esperado, porém o resto do elenco raramente ultrapassa a mediania -, mas Whedon compensa essa limitações com uma realização fluida e vibrante, afirmando-se como um óptimo gestor de cenas de acção e cliffhangers (a última meia hora possui um ritmo vertiginoso, enclausurando os protagonistas e testando os seus limites).
“Serenity” pode não ser um grande filme, mas é um soberbo entretenimento e uma óptima entrada de Joss Whedon em domínios da sétima arte. É um blockbuster, sim, mas não ofende a inteligência e é um dos mais inventivos surgidos em 2005, exibindo uma solidez que falta a muitas das obras – das assumidamente comerciais às mais alternativas - que vão estreando nas salas. Uma boa surpresa que merece ser vista no grande ecrã.
E O VEREDICTO É: 3,5/5 - BOM